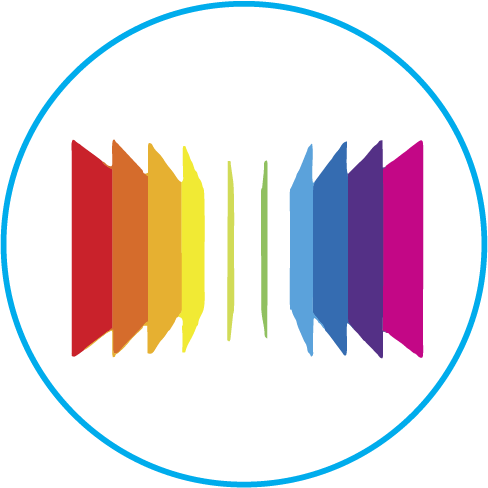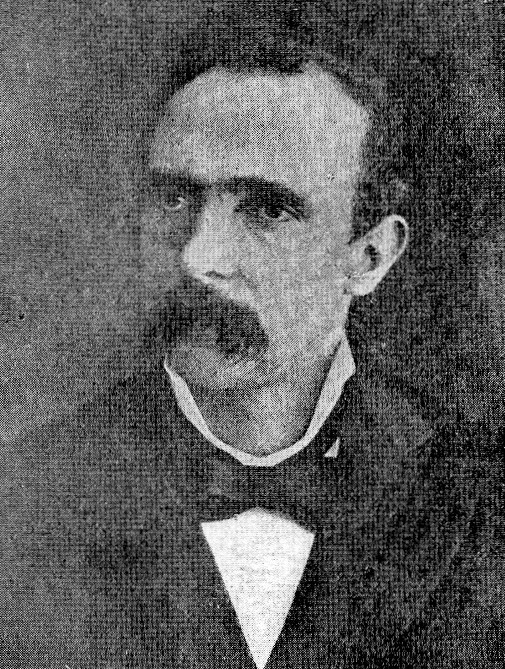A
Abadie de Faria Rosa
“Uma infinita saudade invadiu-me a alma, ao recordar o bom tempo da minha meninice, que decorreu sob a tua benévola e acolhedora amizade. Como vai longe o tempo. Eu hoje estou casado. Vivo dentro da realização feliz do meu sonho de arte [...]. E agora, neste instante, recordando as muitas palestras que tivemos e relembrando esses vinte anos passados de lutas e conquistas, tendo diante dos olhos a sala de tua casa e a bondade dos teus conselhos, que nunca esqueci, chegam a me encher de lágrimas os olhos [...]. Desejava rever-te. Já não poderei ir ao Sul. Se viesses tu ao Rio...” (trecho da carta de Abadie de Faria Rosa para Francisco de Paula Faria Rosa, em 3/8/1927).
Dramaturgo consagrado no país, Alexandre Abadie de Faria Rosa tinha trinta e sete anos quando enviou esta carta para seu tio em Pelotas. Assinando-a como Boccaccio, ele afetivamente sinalizava que, embora morando no Bairro Santa Tereza no Rio de Janeiro, sua formação e seus sentimentos estavam inteiramente vinculados a seus familiares e a sua cidade natal. Filho do comerciante José de Faria Rosa Júnior (que havia sido um dos sócios fundadores do Clube Caixeiral, em 1879) e de Paulina Abadie (cujos pais eram franceses), ele nascera em 23 de agosto de 1889. Seu contato com a arte começara na infância: seu tio paterno, Francisco de Paula Faria Rosa, era um pintor pelotense (lamentavelmente hoje pouco lembrado entre nós), e seu tio materno, João Abadie, participava do “Corpo Cênico do Clube Caixeiral”, sendo um dos atores, em 1900, da peça Fifina, de João Simões Lopes Neto. João Abadie, mais tarde, se tornaria proprietário de uma conceituada loja de instrumentos musicais na rua XV de Novembro, sendo um dos “principais proprietários de prédios urbanos” na cidade.
Bem antes de partir para o Rio de Janeiro aos dezoito anos, Boccaccio já era bastante conhecido em Pelotas. Fazendo sua formação no Ginásio Gonzaga, ele participara de representações como O demônio familiar, peça encenada pelo “Grêmio dos Estudantes” que congregava alunos também do Ginásio Pelotense e da Escola de Agronomia. Foi somente após o “ato solene da colação de grau” do Ginásio Gonzaga, momento festejado com “imponência e brilho” (A Federação, 30/12/1905, capa), que ele iniciou os preparativos para estudar no Rio de Janeiro. Selecionado para a “Turma Suplementar” da Faculdade de Direito carioca em dezembro de 1906 (Correio da Manhã, 18/12/1906), decide por ingressar na Faculdade de Direito de São Paulo no ano seguinte. Passando suas férias em Pelotas, seus amigos lamentam a cada vez que ele deixa a cidade: “Na [corveta] Soturno deve seguir amanhã para Santos com destino a São Paulo em cuja academia cursa com brilhantismo o 2o ano do Direito, o nosso talentoso colaborador e apreciável jovem Boccaccio Faria Rosa, que nesta cidade goza de merecidas afeições” (A Opinião Pública, 23/3/1908, capa).
Formado em Direito em 1910, ingressa em seguida em Medicina, curso que logo abandona para dar vazão à sua vocação para o teatro. Como jornalista, passa então a atuar como crítico teatral na Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro (periódico que tinha, entre seus diretores, João do Rio, e que contava com nomes como Olavo Bilac). Poucos meses depois de Henri Bernstein escrever e estrear em Paris sua peça Le secret (no ano de 1913), Abadie lança-se na tradução do texto. A comédia dramática é encenada pela Cia. Eduardo Vitorino e ganha apresentações no Rio de Janeiro, no Teatro São Pedro em Porto Alegre (A Federação, 25/4/1914) e no Teatro 7 de Abril em Pelotas, em 15/7/1914.
Três anos depois, ele estreia no Rio de Janeiro um texto de sua autoria: a comédia Nossa terra, apresentada no Teatro Trianon em 23/7/1917. No artigo “Um verdadeiro escritor de teatro”, publicado no jornal carioca O País, o crítico João do Rio será o primeiro a reconhecer o talento de Abadie de Faria Rosa como um autor que trata de temas nacionais. No ano seguinte, em plena primeira guerra mundial, ele estreia com novo texto. Após a apresentação, é recebido “No salão do Restaurante Paris” com um “Banquete”, organizado pelo “Rio-Jornal”, por “motivo de grande êxito obtido pela deliciosa peça Soldadinhos de chumbo, ora em cena no Teatro Palace” (A Federação, 25/7/1918). A partir de então é praticamente impossível resumir em poucas linhas sua brilhante carreira. Basta dizer que entre 1917 e 1945 (ano de sua morte), Boccaccio escreve e encena mais de vinte peças de sua autoria (várias delas publicadas em livro).
Funcionário de carreira do governo desde 1914, atuando em diferentes gabinetes de Estado (Agricultura, Tesouro, Justiça), ele também foi um dos organizadores da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). Nomeado por Getúlio Vargas, também presidiu o Serviço Nacional do Teatro. Dentre as diversas traduções de obras que realizou, encontram-se duas de Pirandello.
Comediógrafo que nunca esqueceu sua terra natal, seu nome hoje está numa placa de rua que, da Dom Joaquim, cruza com aquela que leva o nome da soprano Zola Amaro e desemboca na Rua Luís de Camões. Nada mal. Certo é, porém, que ele ficaria bem mais contente se seu nome fosse lembrado nas intermediações do Teatro 7 de Abril – é de sua autoria, no Almanaque de Pelotas de 1918, um dos mais belos textos sobre o centro de sua cidade. E (por que não?) se uma de suas peças fosse novamente representada no teatro onde, um dia, ele fez questão de prestar um tributo aos seus pares antes de seguir seu destino como um talento de nível nacional.
Publicação do verbete: jul. 2024.
Álbum, O
Capa do primeiro número de O Álbum, de jan. 1893.
Dirigido pelo comediógrafo e cronista Artur Azevedo (1855-1908) e impresso por H. Lombaerts & Cia., o hebdomadário O Álbum circulou no Rio de Janeiro, então Capital Federal, de janeiro de 1893 a janeiro de 1895, tendo somado 55 números. Não havia compromisso de publicar em determinado dia da semana ou do mês, apenas com a quantidade de números previstos para cada mês.
Com paginação contínua, os 52 números de cada ano deveriam ser encadernados em volumes de 416 páginas, — prática comum de publicações semanais do século XIX. Com duas colunas, cada página era delimitada por cercadura de fios duplos com detalhes ornamentais nos ângulos internos. A primeira página trazia no alto o título do periódico em tipos de fantasia com o A atravessado por uma pena, símbolo da escrita, e todas as letras entrelaçadas por um ramo florido. Do ponto de vista da arte tipográfica, a novidade e o grande atrativo do periódico eram o retrato fotográfico de alguma celebridade que vinha encartado à parte, em folha própria, independentemente da composição das páginas de texto.
Os exemplares tinham de ser adquiridos exclusivamente na Companhia Fotográfica Brasileira, responsável pelas fototipias, ou nas livrarias Lombaerts, Enciclopédica e Lachaud, uma vez que a remessa por correio poderia danificar as reproduções fotográficas impressas em papel couché.
Com a experiência prévia de ter sido responsável pela publicação da Revista do Rio de Janeiro (1877), do Revista dos Teatros (1879), da Gazetinha (1880-1881) e da Vida Moderna (1886), Azevedo lançou-se à aventura de mais um empreendimento lítero-jornalístico, que em novembro de 1893 foi interrompido pelos acontecimentos da Revolta da Armada e da Revolução Federalista, sendo retomado somente em abril de 1894. Por “preguiça”, segundo o próprio diretor, deixou de circular da segunda semana de junho a agosto de 1894. Ao ser retomado em setembro daquele mesmo ano, O Álbum circularia de maneira irregular até seu fim definitivo em janeiro de 1895. Nele saíram encartados, acompanhados de nota biográfica, os retratos de Machado de Assis (n. 2, jan. 1893), Olavo Bilac (n. 13, mar. 1893), Moreira Sampaio (n. 16, abr. 1893), Eduardo Garrido (n. 21, maio 1893), Luís Murat (n. 26, jun. 1893), Afonso Celso (n. 28, jul. 1893), Ferreira de Araújo (n. 31, jul. 1893), Valentim Magalhães (n. 33, ago. 1893), Fontoura Xavier (n. 35, ago. 1893) e Aluísio Azevedo (n. 54, jan. 1895), irmão do diretor.
Além da biografia de uma celebridade artística ou política, com a qual se abria cada número, o hebdomadário trazia a “Crônica fluminense”, com comentários mais ou menos jocosos de fatos recentes; a seção “Teatro”, com breve resenha dos espetáculos em cartaz; e a partir do número 40, “De palanque”, nova seção de crônica. Eventualmente, saíam resenhas de obras literárias. O Álbum dedicou-se também a publicar, em grande quantidade, textos literários inéditos como contos, poemas e o romance-folhetim Amor de primavera e amor de outono (tipos de mulheres), de Alfredo Bastos, narrativa seriada que ficou incompleta com o fim do periódico.
Para saber mais:
STOPA, Rafaela. As crônicas de Artur Azevedo na revista literária O Álbum. 2010. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Estadual Paulista, Assis, 2010.
Sobre o periódico:
Há coleções completas do periódico disponíveis on-line na Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional e na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, sob a guarda da Universidade de São Paulo. Reprodução em microfilme está disponível para consulta no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP), pertencente à Faculdade de Ciências e Letras de Assis (UNESP).
Publicação do verbete: maio 2024.
Alfredo Troni
Nascido a 4 de fevereiro de 1845, provavelmente en São Martinho do Bispo, Portugal, Alfredo Troni seria batizado como filho de pais incógnitos. Só em 1869 foi perfilhado pelo seu pai, José Adolfo Troni, formado em Direito em Coimbra e lente da respetiva universidade. Alfredo viria também a graduar-se nesse ramo e na mesma universidade, em 1867.
Dois anos depois, começa, em África, a sua carreira profissional. Esta decisão, cujo motivo se desconhece (alguns autores referem razões políticas, mas não apresentam provas), tem a sua primeira etapa em São Tomé e Príncipe, com o cargo de secretário do governo da Província. No final desse mesmo ano de 1869, é nomeado delegado do procurador da Coroa em Cabo Verde.
A sua vida em Angola desenrola-se a partir de 1874, com a nomeação para juiz de direito da comarca de Benguela, de onde será transferido para Luanda no final desse ano. Ao mesmo tempo que exerce funções judiciais, Troni vai sendo chamado a desempenhar uma série de cargos e tarefas de natureza político-administrativa, alguns deles de certo relevo.
Em 1878, ocorre o primeiro revés na sua carreira política: é eleito como deputado às Cortes pela província de Angola, mas não chega a tomar posse, o que se terá devido à intervenção do governador, que terá anulado a eleição.
Um aspeto interessante da combatividade política de Troni está documentado na edição que deu ao prelo em 1898, na tipografia do seu jornal Mukuarimi: um volume de 100 páginas contendo os Discursos proferidos pelo Deputado pelo 1.º círculo da Província de Angola Joaquim Alfredo da Silva. Logo na apresentação, intitulada “Ao público”, se percebe o intuito satírico da publicação: “O editor disto não tem pretensões a figurar de espirituoso à custa do sr. Joaquim Alfredo da Silva Ribeiro. Deseja simplesmente mostrar aos eleitores do 1.º círculo de Angola que o seu representante nada fez em proveito do seu círculo”. Apesar do aviso, a surpresa não desaparece perante a ousadia de inscrever em todas as páginas seguintes a singela declaração “NADA”.
Lograda a carreira parlamentar, Alfredo Troni interrompe também as suas funções judiciais. Alguns estudiosos afirmam que foi destacado para Moçambique e que, recusando o lugar, trocou a magistratura pela advocacia. Seja como for, continua a ser uma personalidade civicamente influente, ocupando diversas posições em estruturas político-sociais, como a Junta Geral da Província, a comissão para a comemoração do 4.º centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia ou a presidência de estruturas como a Associação Comercial de Luanda ou a Câmara Municipal da mesma cidade.
Mas a faceta mais interessante de Alfredo Troni é a de jornalista e de ficcionista. Fundou e dirigiu, em Luanda, três jornais: o Jornal de Loanda (publicado – segundo Júlio de Castro Lopo (1964) – entre 07.07.1878 e 15.01.1882), Mukuarimi e Os Concelhos de Leste. Infelizmente apenas o primeiro parece ter chegado até aos nossos dias de forma integral: o próprio Lopo, que se dedicou com persistência à história do jornalismo de Angola, não conseguiu consultar nenhum número de Mukuarimi e apenas pôde ter acesso a cinco exemplares do último título. Quanto ao Jornal de Loanda, só a antiga Biblioteca Municipal dessa cidade parece dispor da coleção completa. Em Portugal, a Biblioteca Nacional é a única instituição que conserva alguns escassos números. Apesar disso, dispomos da apreciação de Salvato Trigo, que considerou o Jornal de Loanda exemplo de “um jornalismo mordaz e intervencionista” (Trigo, 1977, p. 39), marcando a transição de um periodismo “colonial, anterior a ele, para o nacional que ele, de certo modo, incentivará” (Trigo, 1977, p. 42-3).
Um último aspecto do trabalho de Troni como jornalista que importa investigar de modo sistemático diz respeito à sua colaboração noutros periódicos, tanto de Angola, como foi o caso de O Cruzeiro do Sul, referido por Júlio Lopo, como de Lisboa.
O seu labor como ficcionista é o mais conhecido e o que lhe tem granjeado mais reconhecimento e admiração. Manifesta-se na novela (ou conto) Nga Muturi, publicada, em 1882, em dois jornais de Lisboa, o Diário da Manhã (entre 16.06 e 06.07) e o Jornal das Colónias (de 08.07 a 25.08). Segundo Eduardo Bonavena terá havido uma edição anterior, no Jornal de Loanda, em meados de 1881 (Bonavena, 1986, p. 36).
Faleceu a 25 de julho de 1904, em Luanda, Angola.
Francisco Topa
Para saber mais:
ANTÓNIO, Mário. Alfredo Troni, ficcionista. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Luanda, n. 43, p. 11-15, 1974.
BONAVENA, E. Documentos. Archote, n. 2, p. 32-39, 1986.
LARANJEIRA, Pires. Alfredo Troni. In CRISTÓVÃO, Fernando et al. (Dir. e Coord.). Dicionário temático da lusofonia. Lisboa: ACLUS / Texto Editores, 2005.
LOPO, Júlio de Castro. Um doutor de Coimbra em Luanda. Luanda: Museu de Angola, 1959. (Separata de Arquivos de Angola, 2.ª série, XII, 47-50, p. 217-234, jan.-out. 1955).
______. Jornalismo de Angola: subsídios para a sua história. Luanda: Centro de Informação e Turismo de Angola, 1964.
TRIGO, Salvato. Introdução à literatura angolana de expressão portuguesa. Porto: Brasília Editora, 1977.
TRONI, Alfredo. Nga Mutúri. [Edição e] prefácio de M. António. Lisboa: Edições 70, 1973.
TOPA, Francisco. Alfredo Troni, doutor de Coimbra, cidadão de Angola. Revista de Estudos Literários, Coimbra, n. 5, p. 161-188, 2015.
Publicação do verbete: dez. 2021.
Ana Plácido
Foto da autora, do livro Ana, a lúcida: bibliografia de Ana Plácido, de Maria Amélia Campos.
Nascida a 27 de setembro de 1831, na cidade do Porto (Portugal), Ana Augusta Vieira Plácido foi batizada a 8 de outubro do mesmo ano na igreja de Santo Ildefonso. Filha de José Plácido Braga (?-1852), conhecido comerciante do Porto, e Dona Ana Augusta Vieira (1799-1855), casou-se, em 28 de setembro de 1850, por obediência ao pai, com um rico comerciante, “brasileiro” de torna-viagem, Manuel Pinheiro Alves. Ana Plácido tinha dezenove anos de idade e veia poética; Pinheiro Alves, quarenta e três e veia comercial. O casamento era tido como uma forma de garantir o futuro da filha e resolver a má situação financeira da família. Ana Augusta manteve-se neste casamento por oito anos, mas após este período saiu da casa do marido e foi viver com o homem que de facto amava, o escritor Camilo Castelo Branco. Tal situação causou um grande escândalo na sociedade portuense e, por esta razão, Pinheiro Alves mandou prender a esposa num convento, em Braga, por forma a separar os amantes. Contudo, Ana Plácido voltou a fugir com Camilo. Pinheiro Alves apresentou então queixa no Tribunal Criminal, do Porto, contra o casal por crime de adultério.
A 6 de julho de 1860, Ana Plácido, aos 28 anos de idade, foi presa (com o filho pequeno, fruto do casamento) na Cadeia da Relação do Porto, sem direito a fiança (só depois Camilo se entregou à justiça). Significativamente, levou para a prisão uma biblioteca pessoal (cerca de 500 livros) e muito material para escrita. Apesar da clausura ter sido uma fase traumática na vida da escritora, este foi o seu período de maior produção literária. Os temas do casamento por obrigação e do adultério feminino serão uma constante na intriga das suas personagens. Durante o cárcere escreveu o livro Luz coada por ferros, que mereceu uma resenha crítica de Machado de Assis no jornal O Futuro, periódico literário do Rio de Janeiro. Esta foi a única obra em que usou o seu nome, Ana Plácido: após os escândalos da prisão por adultério, passou a assinar com pseudónimos masculinos (Gastão Vidal de Negreiros, Lopo de Sousa) e siglas dos nomes próprios (A. A.).
Ainda na prisão, manteve participação na imprensa portuguesa e brasileira publicando crônicas, poemas, folhetins, resenhas críticas e traduções. Sua obra encontra-se ainda hoje dispersa nos jornais contemporâneos: Amigo do Povo: comercial, industrial e agrícola (Porto), O Futuro (Rio de Janeiro), Gazeta de Portugal, O Civilizador: jornal de literatura, ciências e belas artes, Revista ABC, A Esperança: semanário de recreio literário, Gazeta Literária do Porto, Diário Ilustrado, O Ateneu: revista contemporânea de Portugal e Brasil, Almanaque Familiar, Revolução de Setembro, O Nacional, O Mundo Elegante, Jornal Semanário (Porto), O Leme e Pensamento Livre (Porto). Após sair da prisão, Ana Plácido ainda publicou o livro Herança de lágrimas (1863) e manteve participação muito ativa na imprensa. Contudo, com o passar do tempo, os afazeres do lar e o cuidado com os filhos e marido a foram afastando da atividade literária. Sua última publicação ocorreu em 1895 no jornal O Leme, assinada somente com o título monárquico que adquiriu ao casar-se com Camilo Castelo Branco: Viscondessa de Correia Botelho. A escritora faleceu em 20 de setembro de 1895. A sua obra, muito dispersa e esquecida, aguarda desde então uma atenção mais demorada.
Maria Luísa Taborda Santiago
Para saber mais:
SILVA, Fabio Mario da. Ana Plácido: o mais célebre adultério feminino no Portugal oitocentista. Letras em Revista, v. 11, n. 2, maio 2021. Disponível em: https://ojs.uespi.br/index.php/ler/article/view/398. Acesso em: 3 abr. 2022.
Publicação do verbete: maio 2024.
Anália Vieira do Nascimento
A escritora Anália Vieira do Nascimento nasceu em Porto Alegre, em 2 de setembro de 1854, falecendo, na mesma cidade, em 24 de janeiro de 1911, aos 56 anos. Casou-se com o bacharel Rodrigo Antônio Fernandes Lima, em 1873, e, em 1874, nasceu Abílio, seu filho único. Anália, bem como seus irmãos João Damasceno e Manuel Vieira, frequentou a Escola Normal de Porto Alegre, atualmente, Instituto de Educação Flores da Cunha, formando-se no magistério. Após ser aprovada em concurso público, foi regente de classe por 25 anos.
Sua carreira de escritora limitou-se, praticamente, ao Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro (publicado em Lisboa entre 1851 e 1932), no qual onze senhoras gaúchas publicaram poemas e passatempos. A primeira colaboração desse grupo pertence a Anália Vieira do Nascimento, tendo ocorrido em 1871 – trata-se do “Logogrifo XI” –, e a última participação de escritora sul-rio-grandense ocorreu em 1903, com o poema “A estátua”, de Maria Clara da Cunha Santos.
Anália iniciou sua colaboração com o Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro em 1871, estendendo-se até 1893. Nesse período, foi não somente a autora mais assídua dessa publicação, pois não compareceu em apenas três edições (1884, 1890 e 1892), como também, a de maior volume de produção; houve anuários em que participou da edição normal e do suplemento. Assinou 37 trabalhos: 16 passatempos (logogrifos, charadas e enigmas), 20 poemas e um texto em prosa.
Logogrifo é uma espécie de poema que propõe um enigma, para ser resolvido a partir de pistas que são oferecidas ao leitor. Foi por meio dessa modalidade que Anália estabeleceu contato com outros autores do Almanaque e com leitores, os quais resolviam os enigmas propostos. Em geral, essas publicações portavam dedicatórias, assim o “Logogrifo XI” foi dedicado a um logogrifista português, Sr. Manuel Maria Lúcio, a propósito de suas publicações nos anos de 1867 e 1869.
Os poemas de Anália, com poucas exceções, inserem-se na estética romântica, versando sobre morte, natureza, saudade, exílio, o tempo que passa. Um exemplo dessa tendência é o poema “Lucília”, em que tematiza a morte de uma jovem a quem chama de irmã. Também escreve poemas de ocasião, para álbuns de amigas, utilizando a forma de acróstico, ou, ainda, sobre algum acontecimento especial, como o poema “Goivos”, no qual homenageia a falecida esposa do editor do Almanaque, Sra. Maria da Piedade Moreira Freire de Aboim Cordeiro.
Conhecia o idioma francês, tendo escrito o poema “Soin”, no qual alternava versos em português e em francês. Um poema que se destaca é “Epístola”, escrito a partir da provocação do editor para que ela alçasse voos mais elevados. O poema contém 37 estrofes, vazadas em diversos metros, no qual discute as possibilidades de composição poética das escolas realista e romântica, comentando as críticas que provocaria qualquer das alternativas que escolhesse. Após elencar conhecimentos sobre literatura, filosofia e ciência, conclui que lhe falta erudição para levar a contento tão significativa tarefa. Finaliza o poema de forma irônica, afirmando que deve conformar-se em ser apenas logogrifista.
O texto em prosa denominado “Victor Hugo (carta)” consiste em considerações críticas sobre o romance Trabalhadores do mar, de Victor Hugo. Nesse texto, a autora revela seu apreço pela obra, considerando-a um pequeno poema, ao mesmo tempo em que critica o que considera a exposição de uma erudição supérflua, que pode afastar o leitor. Também faz observações pertinentes à concepção do amor por parte das mulheres. Anália também publicou no Almanaque Popular, dirigido por Hipólito da Silva, de Campinas, os poemas “Num álbum” e “Soin”, já veiculados pelo Almanaque de Lembranças.
A autora é verbete no Dicionário bibliográfico brasileiro, de Sacramento Blake, e no Dicionário crítico de escritoras brasileiras: 1711-2001, de Nelly Novaes Coelho. É citada por Guilhermino Cesar, na História da literatura do Rio Grande do Sul, num rol de autores, na seção “Outros poetas”. Anália tornou-se objeto de estudo a partir de investigações sobre o Almanaque de Lembranças, destacando-se o alentado trabalho de Beatriz Weigert, Anália Vieira do Nascimento: 1854-1911 – estudo e antologia, publicado em Lisboa, em 2017. No Rio Grande do Sul, foi publicado um capítulo sobre a autora na obra Retratos de camafeu (dois volumes: biografias e antologia), organizada pela professora Maria Eunice Moreira.
Cecil Jeanine Albert Zinani
Para saber mais:
______. Anália Vieira do Nascimento: poetisa gaúcha no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. In: MOREIRA, Maria Eunice (Org.). Retratos de camafeu: biografias de escritoras sul-rio-grandenses. Lisboa; Rio Grande: Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização; Biblioteca Rio-Grandense, 2020. p. 13-31.
Publicação do verbete: jul. 2024.
Andradina América Andrade de Oliveira
Foto da autora, retirada do Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro (1901).
A escritora oitocentista sul-rio-grandense Andradina América Andrade de Oliveira nasceu em Porto Alegre, em 12 de junho de 1864[1] e faleceu em São Paulo, em 19 de junho de 1935. Quando falece o pai, a família passa a viver em Rio Pardo, com parentes maternos, e, ainda jovem, casa-se com o Alferes Augusto Martiniano de Oliveira, de cuja união nascem os filhos Adalberon e Lola. Com o falecimento do marido, em 1888, Andradina torna-se responsável pela manutenção do lar e começa a ministrar aulas em diversas cidades do estado, dedicando-se, igualmente, à literatura e ao jornalismo, sendo conferencista, biógrafa, teatróloga, poeta, contista, romancista. No período entre 1915-1920, a escritora e a filha Lola realizam uma viagem cultural, percorrendo o Uruguai, a Argentina, o Paraguai e a cidade de Cuiabá, na qual permaneceram por dois anos, devido à excelente receptividade. Após esse período, mãe e filha transferem-se para Jaú, posteriormente, para Ribeirão Preto e, por fim, para a cidade de São Paulo.
Comprometida com a importância de divulgar o pensamento feminino da época, Andradina funda o jornal Escrínio, em 1898, em Bagé (RS), sendo editado, também, em Santa Maria e Porto Alegre. Desde o editorial do primeiro número, a autora enfatiza a relevância de as mulheres terem um espaço para colocarem à mostra “sua cultivada inteligência”. Em artigo publicado no Escrínio, Andradina divulgou minucioso retrospecto da história feminina, evidenciando injustiças a que mulheres foram submetidas, como também apontando as que se distinguiram nas mais diferentes épocas e sociedades. Ainda aproveitava espaços do Escrínio, publicando pequenas notas sobre conquistas de mulheres no país e no mundo, assinalando a atuação feminina. Notabilizava, assim, o lema do periódico: “Pela mulher”.
Sempre atuante, a autora colaborava em diversos jornais e revistas com sua criação intelectual, tais como Eco do Sul (Rio Grande), Corimbo (Rio Grande), Correio do Povo (Porto Alegre), Almanaque Literário e Estatístico do Rio Grande do Sul (Rio Grande), A Violeta (Cuiabá), Folha do Norte (Pará). É relevante destacar sua participação em A Mensageira, de São Paulo, fundada e dirigida por Presciliana Duarte de Almeida. Também participou no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, editado em Lisboa, a partir do ano de 1851, e no Jornal do Comércio, de Porto Alegre. Neste último, em fins do ano de 1890, a autora publicou uma série de artigos intitulados “Defesa da mulher”. Damasceno Vieira (A Mensageira, 1987) considerou que esses escritos colocavam Andradina entre as escritoras brasileiras de maior talento. Vale ressaltar que a autora contar com textos divulgados no importante periódico português Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro foi um feito memorável, visto que isso a fez conhecida além-mar, enquanto a literatura sul-rio-grandense, composta primordialmente por escritores, apenas começava a se firmar como tal.
Importantes inventários a respeito da produção intelectual da escritora, apresentados por Schmidt (2004) e Flores (2007) [2], abrangem o período entre 1878 e 1935: na dramaturgia, ela dedicou-se, principalmente, à produção de dramas, sendo registrada uma comédia. Nas obras de contos, destaca-se Cruz de pérolas (1908), pela qual a autora, no mesmo ano da publicação, recebe medalha de ouro na Exposição Nacional do Rio de Janeiro. Além disso, escreveu romances, entre os quais sublinham-se O perdão (1910) e Divórcio? (1912), bem como obra poética, literatura infantil e ainda outras produções como almanaques, artigos, biografias, conferências.
A jornada de Andradina América Andrade de Oliveira destaca-se por relevante ação no contexto sociocultural, por seu comprometimento com a luta por direitos humanos, por uma educação renovada, pela defesa da emancipação feminina mediante acesso à educação, à profissão, à participação política, ao divórcio. Muitos de seus textos endossam sua constante preocupação com essas questões, evidenciando-a como notável representante do feminismo do Rio Grande do Sul do fin de siècle. E, mesmo enfrentando restrições e preconceitos durante sua trajetória, Andradina buscou conquistar um lugar no universo das letras, participando do processo cultural e literário do século XIX e início do XX, o que alcançou com êxito.
Salete Rosa Pezzi dos Santos
Para saber mais:
[1] Registros sobre a vida da autora apontam divergências quanto à data de seu nascimento. Neste texto, são retomados os apontamentos de Flores (2011).
[2] Para saber detalhes sobre esses estudos, ver Santos (2020).
Publicação do verbete: jul. 2024.
Anuário das Senhoras
Capa do primeiro número do Anuário das Senhoras, anunciado em O Malho (Rio de Janeiro, ano XXXIII, n. 31, 4 jan. 1934, p. 45). Fonte: Hemeroteca Digital da Fundação da Biblioteca Nacional.
O Anuário das Senhoras, publicação feminina carioca, foi dirigido por Alba de Mello e intencionava acompanhar as leitoras ao longo de todo o ano. O lançamento do Anuário (ou Annuário, conforme grafia inicial) ocorreu em dezembro de 1933 e continuou a circular de maneira ininterrupta até o exemplar destinado ao ano de 1958. O título pertencia à Sociedade Anônima d’O Malho, empresa fundada por Luiz Bartolomeu de Souza e Silva e Antônio Azeredo e que contou, ao longo do tempo, com diferentes sócios majoritários. A firma era responsável por diversos periódicos, a saber, O Malho (1902-1954), O Tico-Tico (1905-1977), Ilustração Brasileira (1909-1958), Para Todos (1919-1958), Cinearte (1926-1942), dentre vários outros.
A figura central da publicação era Alba de Mello, que escreveu muitos textos, seja com próprio nome ou como Sorcière, sobre moda, comportamento feminino e temas voltadas para o lar. A escritora colaborou com outros periódicos, como Fon-Fon (1907-1958), Para Todos, Cinearte, Tico-Tico e O Malho, e exerceu o cargo de secretária na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro de 1920 a 1961. Cearense, nascida em 7 de maio de 1894, era neta de Leonarda de Mello Marinho e Antônio de Mello Marinho, líder do Partido Conservador durante a monarquia e, posteriormente, chefe do Partido Republicano no interior do Ceará. Acompanhando as andanças do pai, Antônio de Mello Filho (??-1926), também político, filiado ao republicanismo e jurista, atuou como advogado e promotor em diferentes cidades do Ceará e em Belém. Alba de Mello chegou ao Rio de Janeiro somente em 1912 e iniciou a carreira de escritora em 1913, casou-se aos vinte anos com Waldemiro Amadel Soares Filho, que ocupou cargos de destaque junto ao governo de Getúlio Vargas.
Até 1943, a redação do Anuário esteve instalada na Travessa do Ouvidor, n. 34, e de 1945 em diante, no quinto andar da Rua Senador Dantas, n. 15. O exemplar de 1934 custava 6$000, valor que passou para 8$000 em 1942 e, ainda nesse ano, com a mudança da moeda, para CR$ 10,00, chegando ao preço máximo de CR$ 30,00. Em termos de comparação, o número avulso da revista Cruzeiro (1928-1985), a mais popular do país e com periodicidade semanal, custava 1$500 em 1934 e CR$ 15,00 em 1958. O Anuário era impresso em papel couché, na tipografia d’O Malho, que dispunha de métodos modernos, que incluíam offset e rotogravura.
Em relação às capas, apenas a primeira foi composta com papel de elevada gramatura e com desenho de uma leitora, todas as demais assumiram padrão diverso, com papel de menor qualidade, ainda que mais denso do que as folhas internas e sem representação feminina, contando apenas com estampas geométricas, florais e coloridas, por vezes em alto relevo.
A grafia do título variava em termos de posição, tamanho, cor e estilo da fonte, predominado a letra cursiva. O periódico tinha grandes dimensões (18 x 27cm), com cerca de 270 a 320 páginas, e formato de brochura. Vê-se, portanto, que a publicação era feita para durar e ornar o ambiente da casa, que ganhava ar de refinamento. Nas páginas internas, havia muito material iconográfico, fosse em preto e branco ou em cores vivas, tanto nos textos destinados às leitoras quanto nos vários anúncios presentes nas diferentes edições. A publicação contava com ilustradores da empresa O Malho, a exemplo de Paulo Amaral, Goulart (Luiz Goulart), Fragusto (Augusto T. Fragoso), Solon, Osvaldo Magalhães, Rodolfo, Cláudio e César, bem como apresentava traços dos estrangeiros Régis Manset, Maurice Toussaint e Joseph Hémard, ainda que houvesse material não assinado.
Em relação a organização interna do material, no início não havia seções bem definidas, o que só se observa com o decorrer dos anos. Dentre as seções mais frequentes pode-se citar “Noivas”, “Pra gente miúda”, “Lingerie e pijamas”, “Decoração da casa: lençóis bonitos toalhas e outras coisas” e “Forno e fogão”. Textos mais fluidos também se destacaram na disposição interna, a exemplo de “Conselhos úteis”, “Conselhos práticos”, “Utilidades” ou “Conselhos à dona de casa”. Mesclavam-se a esses assuntos anúncios como Regulador Xavier, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Lavolho, Leite de Rosas, Leite de Colônia, Rugol, Cinta Moderna, Creme Depilatório Racé, Pasta Russa, Creme Pollah etc. Embora outras publicidades se sobressaíssem em página única, como Torre Eiffel, cigarros da Cia. de Souza Cruz, Brahma, Air France, Panair do Brasil, cartas Copag, Helena Rubinstein, General Electric, produtos da Marca Peixe, Max Factor, produtos Dagelle e maquiagem Coty. A estratégia da Nestlé incluía a publicação de receitas utilizando seus produtos, cujos anúncios ganhavam impressão colorida frente e verso, com papel couchê de maior gramatura, o que convidava as leitoras a destacá-los e compor seus próprios livros de receita.
No que respeita aos textos, cabe destacar a variedade de gêneros, que incluía poesias, contos e crônicas de reconhecidos literatos, à exemplo de Leonor Posada, Leôncio Correia, Adelmar Tavares, Benjamim Costallat, Othon Costa, Maria Eugenia Celso, Berilo Neves, Hyldeth Favilla, Humberto de Campos, Ada Macaggi, João Guimarães, Olegário Mariano, Machado de Assis e Olavo Bilac. Tal como nas ilustrações, também se recorria com grande frequência a pseudônimos. Moda, cotidiano, educação dos filhos, beleza, receitas, bordados, crochê, cuidados com o lar, normas de higiene e conselhos misturavam-se com artigos sobre eventos e personalidades históricas, atualidades no campo científico, com particular atenção para a Medicina, e novidades do cinema.
O último número do Anuário das Senhoras não trouxe qualquer explicação a respeito do fim do periódico. Contudo, supõe-se que a sua linha editorial não acompanhou as mudanças socioculturais observadas na sociedade brasileira, sobretudo no que respeita ao papel feminino no final da década de 1950, quando as reivindicações em prol da atuação do espaço público ganharam protagonismo. O mercado editorial, por sua vez, também se diversificava e, em breve, o peso da Editora Abril, com suas múltiplas revistas, alterou padrões vigentes. Acrescente-se o impacto, ainda que restrito, da televisão e da velocidade das transformações na produção industrial, que multiplicou os eletrodomésticos e a própria alteração demográfica do país, que tendia a se tornar cada vez mais urbano. A fórmula anuário já não satisfazia as necessidades e as exigências das leitoras.
Ramona Lindsey Rodrigues Mendonça
Para saber mais:
Sobre o periódico:
Publicação do verbete: nov. 2024.
Aquiles Porto Alegre
Fonte da foto: BNDigital do Brasil.
Escritor, biógrafo, historiador, contista, cronista, poeta, professor e funcionário público, Aquiles José Gomes Porto Alegre nasceu na cidade de Rio Grande em 29 de março de 1848 e mudou-se com sua família para Porto Alegre em 1859, onde faleceu em 21 de março de 1926. Junto a seus irmãos Apolinário e Apeles Porto Alegre, ajudou a criar a Sociedade Partenon Literário, em 1868. Também participou da fundação da Academia Rio-Grandense de Letras em 1901, ocupando a cadeira de número 10; da criação da Academia de Letras do Rio Grande do Sul, em 1910; e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, em 1920.
Informações sobre seus estudos não constam em documentos, mas suas crônicas e reminiscências auxiliam no preenchimento desta lacuna. Aquiles estudou no Colégio Gomes – fundado por Fernando Ferreira Gomes, seu primo –, no Colégio Rio-Grandense e na Escola Militar, todos em Porto Alegre. Não há menção quanto aos estudos primários de Aquiles na cidade de Rio Grande, embora eles tenham existido. Apesar da falta de documentos que certifiquem sua trajetória escolar, sabe-se que o escritor não realizou estudos em nenhum curso superior.
Coproprietário e editor do Jornal do Comércio entre os anos de 1884 e 1903, contribuiu com assídua frequência na Revista Mensal do Partenon Literário entre 1869 e 1879. Aquiles também colaborou com o jornal Correio do Povo por mais de vinte anos e foi diretor dos periódicos O Mosquito e A Escola, ambos em 1889, assim como d’A Notícia, em 1896. Aquiles foi funcionário público lotado na Tesouraria da Fazenda de Porto Alegre, em 1880, e aposentou-se como inspetor escolar, cargo que exerceu a partir de 1900. Também desempenhou o magistério, tanto em caráter particular quanto em escolas públicas – o governo estadual nomeou-o para uma cátedra da Escola Complementar, atual Instituto de Educação Flores da Cunha –, e fundou o Colégio Porto Alegre com seu irmão Apolinário.
Escritor romântico, Aquiles tem na crônica o seu principal gênero. Sua produção literária é compreendida como uma revolta contra a modernidade da capital gaúcha, que, ao crescer e expandir-se a partir do século XVIII, tornou-se mais complexa. As crônicas de Aquiles criam uma função referencial da realidade focada no ambiente, na paisagem e nas transformações físicas da urbs que o escritor não só descreve e se apropria, mas que também reformula como síntese da própria cidade.
Suas obras são: “Carlota” (1969), novela; “O tropeiro” (1872) e “Giovanni” (1873), contos; “Hilda” (1874), “O leque de marfim” (1874) e “A velha Quitéria” (1875, inacabada), romances; “A escrava fugitiva” (1869), “Iluminuras” (1884), “Esculturas – Versos” (1889), “Flores de gelo” (1897) e “Val de lírios” (1910), poemas; Fantasias (1894), Contos e perfis (1910), Folhas caídas (1912), Através do passado (1920), Flores entre ruínas (1920), Jardim de saudades (1921), Paisagens mortas – Reminiscências (1922), Noutros tempos (1922), Serões de inverno (1923), Noite de luar (1923), À sombra das árvores (1923), À beira do caminho (1923), Palavras ao vento (1925) e Prosa esparsa (1925), crônicas e contos; Homens ilustres do Rio Grande do Sul (1916 e 1917), Vultos e fatos do Rio Grande do Sul (1919) e Homens do passado (1922), biografias de personalidades relevantes do Rio Grande do Sul. Com os pseudônimos de “Manfredo” e “Carnioli”, o escritor colaborou em ao menos 50 ocasiões com a revista do Partenon Literário, fosse com poemas, notas, narrativas, biografias ou crônicas sobre a sociedade cultural, além de exercer a presidência da agremiação no ano de 1879.
A produção escassa compreendida entre o período de 1875 a 1912 (data de publicação de Folhas caídas, a primeira compilação de crônicas a ser veiculada em forma de livro pelo autor), decorre do fato de o cronista ter dedicado seu tempo tanto ao magistério, quanto aos trabalhos administrativos no Jornal do Comércio. Interessante apontar também que é apenas a partir de 1920 que Aquiles se mostrou mais profícuo em suas empreitadas editoriais, produzindo e publicando doze livros. Especula-se que isto provenha do fato de Aquiles gozar de uma idade já́ avançada e que outras atividades não mais lhe fossem possíveis para complementar seus proventos. Embora os relatos do próprio autor sejam esparsos, é provável que muitas das crônicas presentes em seus livros tenham sido veiculadas nos periódicos O Mosquito e A Escola; n’A Notícia; no Jornal do Comércio, na coluna diária “Variações”, que teve sua primeira publicação em 1891; e no Correio do Povo, na seção “Instantâneos”, a partir de novembro de 1904, e no espaço denominado “Reminiscências”, em 1922, no mesmo jornal.
Henrique Perin
Para saber mais:
VILLAS-BÔAS, Pedro. Notas de bibliografia sul-rio-grandense. Porto Alegre: A Nação; IEL, 1974.
Publicação do verbete: fev. 2025.