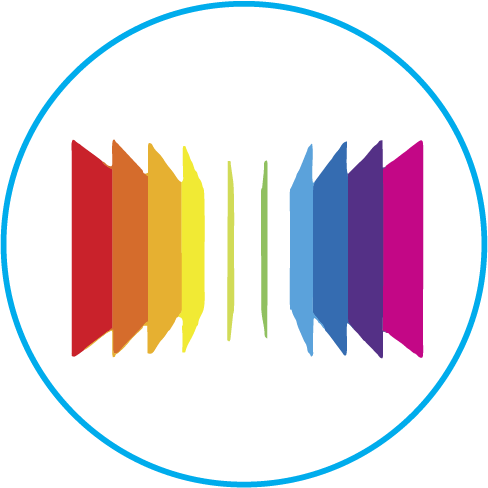C
Carmen da Silva
Carmen da Silva nasceu na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 31 de dezembro de 1919. Psicóloga com formação psicanalítica, jornalista e escritora, é conhecida até hoje como um dos símbolos da modernização da imprensa e da sociedade brasileira contemporânea e por ser pioneira do movimento feminista no Brasil. Carmen da Silva iniciou a exercer o jornalismo ainda jovem, na década de 1940, e o fez durante os vinte anos em que viveu no Uruguai e na Argentina. Nesse período descobriu sua condição plural ao tomar contato com a literatura de forma mais intensa e circular no meio cultural entre os intelectuais latino-americanos integrantes da Associação Psicanalítica e da Sociedade Argentina de Escritores (SADE). Escreveu e publicou nessa época artigos e contos para jornais e revistas argentinos, entre eles La Gaceta de Tucumán, Leoplan, Damas y Damitas, Atlântida e El Hogar.
A escritora rio-grandina em nenhum momento identificou-se com o perfil correspondente ao padrão estabelecido para as moças de sua época. Mas sua vida transformou-se de fato em 1962, quando voltou ao Brasil e decidiu morar no Rio de Janeiro. A partir daí consolidou-se no jornalismo, colaborando para revistas femininas, as quais contribuiriam para a formação do pensamento de gerações de mulheres brasileiras, sobretudo depois que Carmen passou a publicar artigos na coluna “A arte de ser mulher” da revista Claudia, Editora Abril, de 1963 a 1985. Em seu último livro, Histórias híbridas de uma senhora de respeito (1984), ela relata a respeito da imensa receptividade de suas leitoras e das dificuldades em suas experiências de jornalista e mulher, surpreendendo com seu estilo sempre atual, jocoso, leve, agradável de ler, igualmente demarcado pela qualidade literária. Sua coragem e seu pioneirismo contra a herança do sistema patriarcal até hoje provocam e desafiam homens e mulheres à reflexão.
Os ecos dos movimentos feministas penetraram na editoria de Claudia, que tomou a atitude liberal de reunir vozes dissonantes, mesclando o ideal tradicional aos discursos modernizantes no espaço dessa coluna, que antecipou os debates mais tarde encampados pelo discurso feminista em circulação no Brasil: o uso da pílula anticoncepcional, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o divórcio, a dupla jornada de trabalho, a igualdade de direitos entre os sexos. Carmen desmistificava a “rainha do lar” ao mostrar a limitação dos horizontes da mulher, a quem a sociedade não exigia mais do que as habilidades necessárias às tarefas domésticas. O mais interessante em seu pensamento, contudo, era a defesa permanente de uma relação de companheirismo entre homem e mulher e a necessidade de respeito entre pais e filhos por meio da superação de preconceitos e tabus.
Carmen da Silva participou ativamente das principais manifestações públicas em defesa dos direitos da mulher. Em passeatas organizadas pelo movimento feminista no Rio de Janeiro, foi mais de uma vez às ruas à frente das mulheres, incitando-as a tomar consciência de si mesmas e de suas próprias contradições. Um exemplo é a foto aqui reproduzida, em que está fantasiada de “rainha do lar”, na passeata em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 1983.
Autora de sucessos literários em que geralmente o tema central era a mulher, Carmen da Silva publicou os livros Setiembre (1958), Sangue sem dono (1964), Fuga em setembro (1973) e Histórias híbridas de uma senhora de respeito (1984); as coletâneas Guia das boas maneiras (1965), A arte de ser mulher (1966), O homem e a mulher no mundo moderno (1969); e a novela Dalva na rua Mar (1965). Seu último livro, a autobiografia híbrida, Histórias híbridas..., foi publicado um ano antes de seu falecimento, o que ocorreu depois de proferir uma palestra sobre feminismo e jornalismo no auditório do SENAC, em Resende/RJ, quando Carmen sentiu-se mal. Vítima de um aneurisma abdominal fulminante, ela veio a falecer em Volta Redonda, no hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, em 29 de abril de 1985. Foi sepultada no dia seguinte, no Cemitério de São João Batista, Rio de Janeiro.
Carmen da Silva, uma das pioneiras e mais notáveis feministas brasileiras do século XX, mantém essa condição até hoje.
Nubia Hanciau
Para saber mais:
SILVA, Alexandre Pinto da. Carmen da Silva, Caderno n.º 1: rastros, memórias, histórias: recortes e recordações de uma vida. Dissertação (Mestrado em Letras). Instituto de Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2015. Disponível em: http://www.repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/6134/Dissertação%20Alexandre.pdf?sequence=1.
Sobre a autora:
Site do projeto “Carmen da Silva, uma rio-grandina precursora do feminismo brasileiro”: www.carmendasilva.com.br.
Publicação do verbete: maio 2024.
Catarina de Lencastre, 1.ª Viscondessa de Balsemão
Catarina Micaela de Sousa César e Lencastre nasceu em Guimarães, Portugal, a 29 de setembro de 1749, filha de duas famílias que cultivavam pergaminhos literários. O pai, Senhor de Vila Pouca, era poeta em saraus de Guimarães e neto de Francisco Alcoforado, autor de um Manual político (1733) elogiado por Francisco Manuel de Melo; a mãe, filha do 3.º Visconde de Asseca (um dos 21 académicos da primeira Academia Real de História), sobrinha-neta da poetisa Soror Maria do Céu.
Catarina de Lencastre desde cedo deve ter participado em convívios poéticos (Nicolau Tolentino recordaria os seus talentos juvenis). Mas as primeiras composições da autora (sem data) encontram-se somente numa coleção manuscrita de 1788 (hoje na Biblioteca Nacional de Portugal), já depois de ter casado com Luís Pinto de Sousa. É numa composição que o noivo lhe dedica que aparece um primeiro nome arcádico de Catarina de Lencastre (“Coríntia”), mas seguir-se-ão outros, como “Célia” ou “Natércia”. A nomeação de Pinto de Sousa para diplomata em Inglaterra parece ter incentivado o seu desejo de instrução. A coleção manuscrita de 1788 parece corresponder a esse período (1774-1788), ainda que não restem traços de uma toponímia inglesa. Falam da paisagem (do Douro, do Tejo ou do Mondego), do estado amoroso e outros opostos estados de alma, mas também da sua admiração pela ação do Marquês de Pombal (mesmo depois do seu desterro, em 1777).
O regresso do casal a Lisboa tornaria talvez mais assídua a convivência com outros poetas, como Leonor de Almeida (Marquesa de Alorna), Teresa de Melo Breyner (Condessa do Vimieiro), Joana Isabel Forjaz, Bocage, Nicolau Tolentino de Almeida, António Ribeiro dos Santos, Curvo Semedo, José Agostinho de Macedo, Manuel Silva Alvarenga ou Paulino António Cabral (Abade de Jazente). O papel de Ministro do Reino (1800) e a atribuição ao marido do título de 1.º Visconde de Balsemão (1804) contribuíram certamente para a sua visibilidade, mas também o seu entusiasmo poético faz com que o seu nome apareça em muitos poemas e dedicatórias. Dessa convivência são prova a cópia de poemas seus sem assinatura. Algumas poesias de Catarina de Lencastre aparecerão depois impressas na obra de outros poetas. O seu soneto “Fecunda Natureza, em vão procura” será atribuído à Marquesa de Alorna, na edição póstuma preparada pelos seus filhos, em 1844; o soneto “Zoroastes na Pérsia, Hermes no Egito” figura erradamente na obra do Abade de Jazente (editada sem supervisão do autor). Não é possível esclarecer a influência (ou o efeito que nela teve) a peça O triunfo da Natureza, de Nolasco da Cunha, em parte por só se conhecer a versão manuscrita de Catarina de Lencastre, não datada.
É sobretudo nas composições que escreve depois do período do Terror (1791), durante a Guerra das Laranjas (1801), no contexto das Invasões Francesas (1808-1810) ou nos anos que antecedem a Guerra Civil (de 1821 e até à sua morte, em 1824) que a lemos mais ativa, nos folhetos. Usa a poesia para incentivar os soldados ou lamentar a impossibilidade de, por ser mulher, não os poder seguir. Uma compilação de fábulas no ano de 1806 testemunha um espírito satírico ausente nos outros géneros.
Com quase 72 anos (1821), Catarina de Lencastre subiria ainda ao palco do Teatro de São Carlos, em Lisboa, segundo relata, nas Memórias, o neto da Marquesa de Alorna, a "bater as palmas, pedir silêncio à plateia e recitar varias odes e sonetos em louvor do General em chefe do Exército revolucionário, Gaspar Teixeira, seu próximo parente".
Catarina de Lencastre morre a 4 de janeiro de 1824, ditando sonetos sobre a clemência divina ao padre que lhe dava a extrema-unção. Se excluirmos os textos escritos para os soldados, serão os primeiros da sua lavra que saem impressos, no jornal Correio do Porto, logo a 6 de janeiro de 1824. Por permanecer a sua obra em manuscrito, ou dispersa em almanaques, folhetos volantes e jornais, os historiadores literários vão-a esquecendo. Balbi e Bouterwek referem-na, Almeida Garrett inclui-a no Parnaso Lusitano, mas depois será cada vez mais rara a sua presença nas histórias da literatura, por não ter obra impressa reunida. Desse silêncio a tentaram resgatar os estudos de Zenóbia Cunha e Maria Luísa Malato Borralho, estando a sua obra no prelo.
Maria Luísa Malato Borralho
Para saber mais
SALVADO, António. Antologia da poesia feminina portuguesa. [s.l]: E. F.; Ed. Jornal do Fundão, s.d.
Publicação do verbete: maio 2024.
Clarim da Alvorada, O
O mensário negro, fundado como O Clarim, na cidade de São Paulo, por Jayme de Aguiar e José Correia Leite, em 6 de janeiro de 1924, adicionou os termos da Alvorada na quinta edição, mantidos até sua extinção, em 28 de setembro de 1940. Ao todo, foram publicados 78 números. Entre a edição de estreia e o número 36, datado de 15 de outubro de 1927, a direção ficou a encargo de José Correia Leite e Jayme de Aguiar, sob o pseudônimo de Jim de Araguary.
Depois de uma breve interrupção, a publicação foi retomada em 5 de fevereiro de 1928, com Urcino dos Santos e João Soter da Silva como diretores e, para marcar a nova etapa, inseriu-se no cabeçalho os dizeres “Segunda fase”, e a numeração foi reiniciada. A partir de 23 de agosto de 1930, Sebastião G. Castro agregou-se à direção e permaneceu no jornal até o encerramento desta fase, em 13 de maio de 1932. Após oito anos, uma única edição, que retomou o título, foi publicada em 28 de novembro de 1940, sob a batuta de José de Assis Barbosa, em homenagem à Lei do Ventre Livre. Nota-se a inscrição “Terceira fase” no cabeçalho, indicativo do intento de dar continuidade à publicação, o que não ocorreu.
O periódico possuía quatro páginas, as imagens eram raras e os anúncios divulgavam estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços da própria comunidade negra. Os números avulsos custavam 200 réis, a assinatura semestral 3 mil e a anual variava entre 5 e 8 mil, valores abaixo daqueles cobrados pelos jornais de grande circulação. A imprensa negra do período lutava com dificuldades de ordem econômica e material, tanto que muitos jornais sobreviveram menos de um ano, pois eram feitos por e se destinavam a pessoas, em geral, menos favorecidas, fruto de séculos de escravismo e da falta de reparação social.
Jayme de Aguiar e José Correia Leite foram os principais redatores durante toda a existência do jornal, ambos autodidatas. Aguiar escrevia, sobretudo, poemas e contos, nem sempre diretamente relacionados com o movimento negro, enquanto Leite respondia por textos em prosa, com críticas explícitas à desigualdade racial.
No cabeçalho do primeiro número, o jornal estampou o subtítulo “Órgão Literário, Científico e Político”, que se alterou para “Literário, Científico e Humorístico” na segunda edição, e para “Literário, Noticioso e Humorístico” na terceira. Na segunda fase, iniciada em 1928, nova mudança, desta feita para “Noticioso, Literário e de Combate”. A permanência do termo “literário” indica a relevância do conteúdo para o projeto editorial da folha, pois, não raro, a ficção se constituía em oportunidade para criticar o preconceito racial e reafirmar a importância da cultura negra para a constituição da nacionalidade brasileira, bem como a necessidade de valorização dos afrodescendentes, com especial destaque para as mulheres negras. São exemplos o poema “À gente negra”, de Arlindo Veiga, veiculado em 15 de janeiro de 1927, e o soneto “À mãe preta”, autoria de Reis de Carvalho e estampado em 13 de maio de 1929. Ademais, os redatores reproduziram obras de autores negros célebres para homenageá-los e utilizá-los como exemplos fosse de ascensão social ou da produção intelectual, sempre associadas à educação, discurso perceptível desde a edição de estreia d’O Clarim, que, na primeira página, estampou o poema “Coração”, de Cruz e Sousa, seguido de breve biografia e de artigo intitulado “Imitemo-los”.
Considera-se que a criação d’O Clarim da Alvorada em 1924 inaugurou a segunda fase da imprensa negra paulista (1924-1937), caracterizada pela acentuação da combatividade dos periódicos produzidos por e para afrodescendentes. A trajetória da folha esteve atrelada ao Centro Cívico Palmares (São Paulo, 1926-1929), entidade fundada em prol da melhoria das condições de vida dos negros, com enfoque na alfabetização, tal qual a Frente Negra Brasileira (São Paulo, 1931-1937) – a maior organização afrodescendente da década de 1930 –, pois, além da folha divulgar as atividades de ambas as entidades, alguns de seus colaboradores também eram membros filiados às agremiações. Além disso, O Clarim da Alvorada destacou-se por adotar o pensamento panafricanista na sua coluna “O Mundo Negro”, na qual defendeu concepções de intelectuais como as do norte-americano Marcus Garvey, que mantinha o jornal Negro World (1918-1933), inspiração para o nome da coluna, e Robert Abbot, fundador do Chicago Defender (1905-), com o qual José Correia Leite mantinha contato.
O Clarim da Alvorada está disponível para consulta na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
Ingrid Aveldiane Adriano Pardinho
Para saber mais:
SANTOS, Renan Rosa dos. Ideias e ações pela integração negra: a trajetória do jornal O Clarim da Alvorada (1924-1932). 2021. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2021.
Publicação do verbete: nov. 2024.
Crônica
Capa do livro Os sabiás da crônica, org. Augusto Massi, Ed. Autêntica, 2021.
A crônica é um gênero polivalente. São muitos os valores que transitam ao longo do percurso de sua afirmação, assim como são vários e, não raro, divergentes, os aspectos que fundamentam seus traços formais. Esta configuração movediça, instável e proteiforme é marca também de sua história. Suas raízes partem de relatos sobre as ações que os indivíduos realizam no tempo, especialmente aquelas que se inscrevem em ciclos históricos notáveis e cujo registro evade-se da denotação para tornar-se também permeável à conotação.
É nesta acepção que a crônica circulará na Espanha, França e Inglaterra ao longo do século XII. No período, portanto, tratava-se de um discurso historiográfico que admitia a imaginação no engendramento de seus conteúdos, transfigurando a pulsação efêmera do vivido em testemunho narrativo. Ao longo de sua trajetória, contudo, outros sentidos são assimilados pelo gênero, dos quais se podem mencionar os significados de cunho religioso, além de filiações mais específicas, como aquela que o vincula ao ensaio de tom pessoal e especulativo idealizado por Montaigne; ou outra, estabelecida por Afrânio Coutinho, baseada na relação – apressada e imprecisa, diga-se – entre a crônica e os textos da tradição inglesa batizados de personal essay ou familiar essay.
Com o propósito de traçar a genealogia do gênero em língua portuguesa, no entanto, é fundamental partir da nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor do reino de Portugal e a responsabilidade atribuída a ele de narrar os feitos dos reis antepassados a D. Duarte. Já no Brasil, segundo Jorge de Sá, a prática da crônica estaria no centro do relato de achamento da terra feito por Pero Vaz de Caminha, em sua empreitada de relatar sucedidos no tempo presente, esforçando-se para captar uma realidade efêmera e circunstancial, evocada não apenas pelo que tem de monumental, mas principalmente pelo valor dos pequenos acontecimentos e pela força narrativa do detalhe. De qualquer forma, percebe-se nestes momentos iniciais que o gênero é distinguido por imprecisões conceituais, contradições taxonômicas e descompassos evolutivos que frequentarão toda sua história. Entretanto, apesar desta instabilidade na procura de sua origem e nos elementos-chave de sua constituição, é possível estabelecer algumas características que marcam a crônica nas suas mais diversificadas manifestações.
O hibridismo. Seu primeiro aspecto distintivo é antecipado pelo percurso formativo acidentado que a marca e serve de parâmetro para muitos dos traços que a definem. A crônica começa a adquirir suas feições contemporâneas no século XIX, processo situado dentro do lugar ocupado pela imprensa na sociedade oitocentista e do estabelecimento do folhetim romântico enquanto seção essencial dos periódicos. Neste contexto, o folhetim (feuilleton) representava um novo espaço dentro dos noticiosos: o rodapé (inaugurado na França por Émile de Girardin), cuja principal característica era a independência em relação às demais seções do jornal. Inicialmente sua função era publicar textos literários, estatuto logo modificado em vista de servir como uma espécie de miscelânea, em que todos os tipos de assunto poderiam ser elaborados, com ênfase na crítica de arte, resenhas e artigos sobre assuntos diversos. Sendo assim, tratava-se de um lugar destinado às “variedades” e cujo propósito principal seria o entretenimento.
Não demorou para o termo “folhetim” designar tudo aquilo que não fosse jornalismo propriamente dito, incluindo aí os contos, romances e novelas publicados em seu espaço. Apesar desta multiplicidade de temas e modos, uma distinção se aplica entre o folhetim-romance, dedicado à publicação de romances em capítulos, e o folhetim-variedades, ocupado em coletar e comentar os acontecimentos da vida da cidade, sendo logo adotado, de forma experimental, pelos jovens escritores interessados em se comunicarem neste estilo livre, entre a retórica, o jornalismo e a literatura. É na esteira desta segunda acepção que se configura a crônica como a conhecemos hoje, a partir do momento em que o jornal se torna campo estético para sua realização, o que a distancia dos demais textos literários que habitavam o jornal “de empréstimo”.
Os primeiros exercícios desta modalidade cronística no país partem de gêneses diversas. Afrânio Coutinho menciona Francisco Otaviano de Almeida Rosa, em 1852, como seu iniciador entre nós. Vilma Arêas, por seu turno, demonstra que Martins Pena já exercitava este tipo de escrita nos jornais brasileiros desde 1839, com crônicas que trazem os sugestivos títulos “Minhas aventuras numa viagem de ônibus” e “Uma viagem na barca a vapor”, textos em que episódios de pouca importância aparente são elaborados pela imaginação e configuram-se por meio de uma franca faceta ficcional. Joaquim Ferreira dos Santos, contudo, cita o padre Lopes Gama em O Carapuceiro (1832) e o jornal Espelho Diamantino (1828), com sua seção fixa dedicada ao relato dos costumes do período, dentre as manifestações que inauguram a crônica nacional.
Ateste-se nestas primeiras realizações uma das principais ambivalências da crônica, ou seja, o caráter fronteiriço entre o jornalismo e a literatura. Com efeito, é necessário mencionar a notável distinção que se sustentará a partir deste ponto entre a crônica e o artigo. A primeira se afasta do texto jornalístico principalmente porque, enquanto neste a linguagem é um meio, naquela, é um fim. Seu propósito está em abandonar a natureza do fato em si para reconhecer nele as propriedades literárias que o tornam relevante e envolvente, além do estilo que o valoriza, seja extraindo dele alguma graça, algum lirismo, alguma alegoria complexa ou reflexão existencial escondida nas trivialidades que passariam desapercebidas, não fosse o olhar atento do cronista. Nesse sentido, a crônica se ocupa em percorrer e descobrir. O artigo, em demonstrar e conceituar.
Esta distinção foi percebida e elaborada pelos dois autores que estabelecerão a crônica no Brasil enquanto espécie de “contranotícia”, José de Alencar e Machado de Assis, escritores responsáveis por definir aquela que seria a primeira fase do gênero no país e que têm em comum, guardados seus estilos diferenciados, a percepção dos atributos polivalentes e cambiantes da nova textualidade que experimentavam: seu hibridismo fundante e configurante, eixo de um discurso intersticial, multimodal e pluridiscursivo. Ao longo da história da crônica, este hibridismo estimulará esforços classificatórios contraproducentes, como as infindáveis listas de subgêneros que, carentes de rigor, tentam diferenciá-la com critérios imprecisos, distinguindo a crônica lírica, a crônica-conto, a crônica humorística, a crônica-artigo, entre outros termos similares. Estas tentativas inquietas e abrangentes de definição se associam a outra característica da crônica.
A dispersão. Isso ocorre porque o hibridismo do gênero adquire contornos formais e conteudísticos. Primeiramente, porque os cronistas estabelecem que, na crônica, cabe tudo. Alencar e Machado deixaram registros célebres a respeito disso, em textos que erravam de um assunto para o outro, especulavam, tergiversavam, sucediam-se em episódios vários, muitas vezes desconjuntados, que oscilavam da narração para a digressão e, desta, para a descrição, mas se uniam em solidariedade, em um mesmo passeio marcado pela liberdade discursiva e tópica. Além das crônicas metaliterárias de Machado e Alencar, é possível citar aqui aquele que marca o segundo momento na crônica no Brasil, Rubem Braga, com textos como “Sizenando, a vida é triste” e “Conversa de abril”, exemplos que modelaram todo um legado cultural e influenciaram textos de outras gerações, como “A pirâmide, o labirinto, a esfinge, o inferno”, de Vário do Andaraí; “Navegar”, de Gil Perini; “Guarda-chuvas e capacetes”, de Fernando Sabino; “A vida virtual”, de Ruy Castro; “Karaokê”, de Fabrício Corsaletti; e “Paris, Texas”, de Maria Ribeiro.
Não raro, a dispersão nasce de uma performance que admite a falta de assunto, a partir da qual o cronista simula uma escrita por obrigação, dedicada ao cumprimento dos prazos, o que ocorre em “Qualquer coisa”, de Lima Barreto, por exemplo. Além disso, desta mesma tradição emerge também o uso recorrente da figura do flâneur, aquele que anda pelas ruas atento para as suas inúmeras possibilidades de assuntos, paisagens e conflitos. O personagem, enquanto condutor da atividade cronística, se propulariza ainda no século XIX com Joaquim Manuel de Macedo, mas adquire linhas definitivas com aquele que já precedia a modernidade de Rubem Braga no Brasil: João do Rio, em textos do tipo de “A pintura das ruas” e “Modern girls”. Ateste-se ainda que, seguindo na linha da flânerie, podem ser citados também “Andar, simplesmente”, de Carlos Drummond de Andrade; “Réquiem para os abres mortos”, de Paulo Mendes Campos; e “Cadê meu bistrô”, de José Carlos de Oliveira. Estes passeios literários pela realidade coletiva e comum se associam à próxima característica da crônica.
A aventura do cotidiano. A expressão é de Fernando Sabino e se relaciona com outra idealizada por Antonio Candido sobre o gênero: “ao rés do chão”. Ambas designam certa propriedade que a crônica frequentemente assume de atentar para os objetos e valores do mundo de uma maneira subversiva, invertendo suas importâncias e propriedades para admitir e procurar a relevância do que normalmente é considerado insignificante. Uma das técnicas dos cronistas utilizada para este tipo de figuração é o “efeito lupa”, ou seja, a ampliação do minúsculo, fruto de uma observação enviesada que atua, muitas vezes, por meio da desautomatização e da singularização, ou seja, que tenta mostrar os objetos como se eles fossem vistos pela primeira vez, atividade que envolve a descoberta de propriedades originais em itens ordinários e de relações nunca antes imaginadas entre eles, além de abordar as situações do mundo ordinário por prismas até então inéditos. São exemplares destes recursos as crônicas “Aula de inglês” e “Visão do mar”, de Rubem Braga; “O jogador e sua bola”, de Affonso Romano de Sant`Anna; “Abacate”, de Maria Julieta Drummond de Andrade; “A invenção da laranja”, de Fernando Sabino; “Considerações acerca da goiaba”, de Cecília Meireles, “O guarda-chuva”, de Antonio Prata; “A máscara do meu rosto”, de Nélida Piñon; e “Tabuletas”, de João do Rio.
Na maioria destas peças, o que se observa são situações nas quais o universo cotidiano assiste à corrosão de suas hierarquias. O fora de foco avança para o primeiro plano. O irrelevante torna-se significativo, prenhe de sentidos. Assim, fazem parte também desta “aventura do cotidiano” as crônicas em que situações e lugares comuns provocam epifanias e revelam aspectos não descobertos do real. O espaço e seus objetos, portanto, deixam de ser itens meramente descritivos para tornarem-se propositivos. É o que sucede nos textos: “No restaurante por quilo, deus morreu e tudo ali é permitido”, de Gregório Duvivier; “Debaixo da ponte”, de Carlos Drummond de Andrade; “Banheiro de posto: um caso de estudo”, de Antonio Prata; “As bonecas”, de Lourenço Diaféria; “Ah, o copo de requeijão”, de Humberto Werneck; “O lugar”, de Mario Prata; e “O milagre das folhas”, de Clarice Lispector.
Fique visto que, em certas oportunidades, o “correlato objetivo”, técnica frequentemente associada à poesia, é a estratégia eleita para a figuração, isto é, seleciona-se uma imagem ou um conjunto de imagens ordinárias que se rearranjam para produzir efeito novo (geralmente emocional) no leitor. Os itens da realidade perdem seu estatuto inerte para tornarem-se parte de uma consciência integrante. O objeto, ou o cenário, se converte, assim, em ente. Nestas situações, a crônica começa a se abrir para outra de suas características.
O lirismo. A crônica se aproveita de alguns dos valores da lírica com frequência: o afastamento da noção aristotélica de imitação e o esmorecimento da intriga e da linearidade da ação em busca de uma representação marcada por outros prefigurantes, como a carga afetiva, a unidade de significação das palavras, a performance discursiva, ora rememorada, ora onírica. Nestes casos, não há enredo propriamente dito e a vaguidade é ocasionada pela disposição anímica (introspectiva e/ou reminiscente) de quem se expressa, o que, por um lado, confunde as fronteiras do mundo exterior e do mundo interior e, por outro, convida à leitura ativa e comprometida. Assim, o lirismo na crônica tende a convidar o leitor para correalizar algo já realizado e inserir-se como ser atuante no relato.
Outras possibilidades estilísticas deste tipo de texto envolvem o uso de recursos geralmente associados à escrita dos poemas, como os paralelismos, as repetições, as paranomásias, as rimas internas, as aliterações, as enumerações, a metaforização abundante e a musicalidade, na qual as relações do ritmo, som, imagem e sentido das palavras (em harmonia e em dissonância) formam uma mesma enunciação vocabular, cuja capacidade expressiva importa mais do que o encadeamento lógico-sintático dos períodos e sentenças. A estes procedimentos podem se somar outros, que se sustentam na fragmentação das frases, o que confere um ritmo afogueado à enunciação, componente verbal da exaltação de uma vida interior que se transborda, ou de um inconsciente que se liberta e expressa, ou da metafísica que gradativamente se aproxima da consciência narrativa, mas nunca se instaura, pois esta entende que a verdadeira natureza das coisas não é um todo estável, mas uma busca em devir.
Além disso, o lirismo na crônica frequentemente opera uma descrição transfigurada do mundo, que descreve sem definir. Estabelece-se, assim, um voo vertiginoso de elucubrações íntimas, reveladoras da tensão permanente de um mundo que se evoca, mas nunca se apresenta nítido e integral. Estas estratégias compõem obras como “Domingo” e “Setembro”, de Rubem Braga; “Compensação”, de Cecília Meireles; “Prosa primitiva” e “Primeiro exercício para morte”, de Paulo Mendes Campos; “A noite é uma lembrança” e “O exercício de piano”, de Antônio Maria; e “Eu sei, mas não devia”, de Marina Colasanti.
É importante ressaltar que, nestes casos, apesar dos vários recursos formais evocados, a linguagem geralmente não se rebusca e a aproximação com o cotidiano não se perde, mesmo quando o universo mundano é capturado pelo que tem de acidental e passageiro, circunstância que permite introduzir outro dos elementos recorrentes do gênero.
A efemeridade. Este aspecto se desdobra em dois sentidos. Primeiramente, na feição já explorada pelo lirismo, isto é, o desejo que a crônica tem de grafar o momento que passa. Mas há outro significado que a acompanha desde os folhetins até sua apresentação atual em páginas da internet, blogs de autores e veículos digitais: a validade curta que ela possui. Sua apresentação se processa neste universo, mais uma vez ambivalente, entre o transitório e o permanente, entre a publicação pontual e periódica e sua reapresentação definitiva em livro; entre a referência ao acontecimento passageiro, sua eloquente referencialidade, e a atualização em contextos futuros, distantes de sua data de publicação original. O leitor tende a esquecer da notícia, mas lembrar da crônica e esta relação ambígua com o fato sucedido anuncia outra de suas características.
A opinião. Como já dito, a crônica é uma espécie de contranotícia, sendo assim, o papel da opinião nela assume dupla natureza. Inicialmente, pois flexibiliza, ou mesmo se distancia, da hipótese. Interessa mais aos cronistas as contradições de sua argumentação do que convencer os leitores de seu ponto de vista (esforço este presente no artigo). As dúvidas são tão importantes quanto a hipótese central. As crenças se enfraquecem pela especulação, pela errância meditativa, pelas muitas possibilidades digressivas e pela flutuação própria da miscelânea. É recorrente que estes textos sejam motivados pelas dúvidas que os leitores enviam aos jornais, como é o caso das crônicas: “Ser gente” e “Discos voadores”, de Rachel de Queiroz.
Em outras oportunidades, o cronista parte do acontecimento noticioso para revelar aquilo que ninguém comentou, perceber o que nenhuma nota oficial reparou e analisar aspectos considerados laterais do tópico em pauta, ignorando seus aspectos centrais: “O Brasil lê”, de João do Rio; “E a múmia tinha uma bolsa”, de Marina Colasanti; “Colapso”, de Fernanda Torres; “Herói. Morto. Nós”, de Lourenço Diaféria; “Morte de uma baleia”, de Clarice Lispector; “Batalha no Largo do Machado” e “Flor de maio”, de Rubem Braga; e “A rainha na visão dos trópicos”, de Fernando Sabino. Este desejo de comunicação, que evita ser unilateral e apresenta-se despretensioso, se relaciona com outra característica da crônica.
A acessibilidade. A crônica, seja na modalidade lírica ou na opinativa, prefere se apresentar em registro coloquial e informal. Seu léxico é comum e usual. Ao absorver muitos aspectos da oralidade, se aproxima mais da conversa do que da palestra e isso também se relaciona com sua origem, afinal os narradores da crônica se delinearam no século XIX, lado a lado com o começo da literatura de massas e com a franca dessacralização do texto literário. Assim, na cronística, a língua se apresenta de forma trivial e, com a imaginação, adquire suas propriedades literárias. Este registro próximo do dia a dia se converte também em outra propriedade do gênero.
A intimidade. O narrador da crônica quer estar próximo dos leitores. Comunicar-se com eles como se fossem conhecidos e transitar em um universo que seja comum ao produtor e ao receptor, estimulando a incorporação da realidade do interlocutor no texto. Este tipo de recurso poder ser visto em “O homem com a menina no colo”, de Luiz Henrique Pellanda; “Insônia”, de Luis Fernando Verissimo; “A última crônica”, de Fernando Sabino; “Naquela mesa tá faltando um”, de Mario Prata; “Receita de felicidade”, de Ivan Ângelo; e “As razões que o amor desconhece”, de Martha Medeiros.
É importante notar que esta atitude de familiaridade adquire tons confessionais e desabafantes em certas ocasiões: “Temas que morrem”, de Clarice Lispector; “Quem tem olhos”, de Marina Colasanti; “Agostos por dentro” e “Pálpebras de neblina”, de Caio Fernando Abreu; “Despedida”, de Antônio Maria; “Eu sou bonita, mas estou cansada”, de Tati Bernardi; “Elogio da morte”, de Lima Barreto; e “Eu, nua”, de Maria Ribeiro.
Quando radicalizada, esta comunhão entre leitor e narrador pode se estabelecer pelo uso da primeira pessoal do plural, como “Amanhecer em Copacabana”, de Antônio Maria, e “Bar ruim é lindo, bicho”, de Antonio Prata, ou na focalização interna de segunda pessoa, que ocorre em “Verdade interior”, de Caio Fernando Abreu, mas geralmente se instaura pela inferiorização e autodepreciação da voz que relata e se apresenta em situações constrangedoras e desfavoráveis: “Um idoso na fila do Detran”, de Zuenir Ventura; “Diário da quarentena”, de Antonio Prata; “O homem rouco”, de Rubem Braga; “A descoberta do mundo”, de Clarice Lispector; e “Notas de um ignorante”, de Millôr Fernandes. Nestes últimos exemplos, percebe-se um ingrediente recorrente deste tipo de narração, o último que costuma marcar o gênero nas suas diversas manifestações.
O humor. O riso é ambivalente como a crônica. Etimologicamente, é líquido e fluido. Vive também em um espaço liminar, no caso entre o psíquico e o físico, entre o individual e o social. As várias modalidades do cômico exibem o potencial para ridicularizar o que é sério, ou seja, abalar a constituição natural dos fenômenos, infringir o esperado e quebrar os padrões e as convenções. O desinteresse pelas formas originárias e estáticas dos discursos, a desconfiança com a noção de pureza, que favorece o intertexto e o dialogismo, e a inversão das hierarquias normatizadas são propriedades que irmanam a crônica e o cômico.
Além disso, a argumentação debochada dos cronistas, que desconcerta para esclarecer, encontra na derrisão, na energia que corrói os valores do mundo, as possibilidades para renová-lo. A crônica se beneficia, portanto, do caráter regenerativo do riso, que, como já defendeu George Minois, atua no hiato entre a existência e a essência. Assim, o humor é instrumento frequente do olhar específico que o cronista dirige ao mundo, condizente com o tom leve que seu registro assume, afinal, como sabiam seus primeiros articuladores, a necessidade de entreter o público e comentar sua vida marca a crônica desde o nascimento, e estas duas atividades se beneficiam das propriedades que o cômico tem de apresentar os costumes às avessas, a contrapelo, por um viés inédito e, por isso mesmo, sedutor e envolvente.
Daniel Baz dos Santos
Para saber mais:
SIMON, Luiz Carlos. Duas ou três páginas despretensiosas: a crônica, Rubem Braga e outros cronistas. Londrina: EDUEL, 2011.
Muitas das crônicas aqui citadas podem ser lidas no “Portal da Crônica Brasileira”.
Publicação do verbete: fev. 2025.