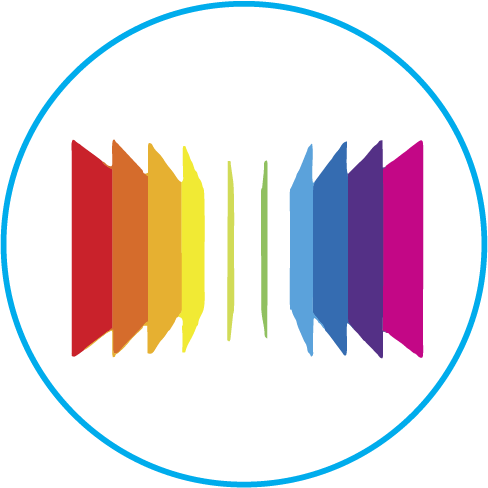Saramago, no dia da entrega do Prémio Nobel de Literatura. Fonte: The Nobel Museum.
Enquanto autor, a relação de José Saramago (16/11/1922, Azinhaga, Portugal – 18/06/2010, Tías, Espanha) com a imprensa literária começou, se não antes, pelo menos em 1943, tinha ele 21 anos, e estender-se-ia, com alguma regularidade, até 1953, em importantes periódicos (Diário de Lisboa, Vértice, Diário Popular, Magazine da Mulher, Seara Nova etc.), às vezes sob pseudónimo (Honorato), para a seguir se verificar uma interrupção de cerca de quinze anos. Um exemplo: na revista Ver e Crer, “de tipo magazine, generalista [...], espécie de imitação portuguesa da americana Selecções reader’s digest” (Real; Oliveira, 2022, p. 72), nas palavras de Miguel Real e Filomena Oliveira, Saramago, a quatro meses de completar 26 anos, publicaria, no n. 39, em julho de 1948, o conto “A morte de Julião”. Neste número, colaboraram nomes como Fernando Namora, que seria um dos mais destacados escritores portugueses das décadas de 1950 a 1970. No texto de Saramago, curto, com duas páginas A5, os temas do tempo e da morte, transversais a toda a sua obra, são tratados a par de uma ironia sarcástica e questionadora que incide sobre outro dos topoi e das personagens alegóricas por que também o escritor se singularizaria: o Senhor da Morte, Deus, só entende a liturgia se ela for em latim. Quer dizer: Deus não é poliglota, não ouve os fiéis e estes não o percebem, porque não sabem latim.
Em 1953, José Saramago concluía o romance Claraboia (não publicado senão em 2011, após a morte do escritor[1]) e, neste mesmo ano, saía mais um conto breve, já definitivamente com o inconfundível estilo saramaguiano das crónicas e dos contos, intitulado “O heroísmo quotidiano”, no vol. XIII, n. 119 (julho), da Vértice: revista de cultura e arte (p. 397-399). Escrito cerca de dois anos antes, em setembro de 1951, como se assinala no final, é um conto sobre um homem comum “que eu conheci”, o Zé Canhoto, morto por um touro, e sobre o ato de escrever, o valor da vida e da literatura. Constitui igualmente um manifesto – ironicamente contra uma certa mundividência urbana e uma certa literatura ensimesmada (a dos “próceres da nossa literatura”) – que nos revela muito sobre a evidente qualidade técnico-literária e sobre os interesses temáticos e semânticos de um autor à procura de si mesmo (e que, em larga medida, talvez sem o saber, estava a definir-se com segurança, a pouco e pouco): um autor, exímio no manuseio da sintaxe límpida e do “português literária e gramaticalmente puro” (Real; Oliveira, 2022, p. 186), que dedicava muitas das suas crónicas a homens e mulheres vulgares, nomeados não pelo seu nome próprio, marca de identidade e de valor nobre, mas por diminutivos, alcunhas ou pelo ofício ou por alguma característica psicológica, física ou traço comportamental (“O sapateiro prodigioso”, “O amola-tesouras” e “O cego do harmónio”, de A bagagem do viajante; “A velha senhora dos canários” e o “O fala-só”, de Deste mundo e do outro). Manifesto, insista-se, que José Saramago, a terminar o conto, define programaticamente em termos que toda a sua obra confirma: “a literatura não ama os valentes: prefere os débeis, os torturados, os angustiados, os sedentos de infinito”.
O futuro Prémio Nobel de Literatura de 1998 tinha então 31 anos (29, segundo a data da escrita do conto) e publicara já, aos 25 anos, um romance, Terra do pecado (1947), que não merecera a atenção da crítica nem do público. A origem desta vontade de escrever e a tendência para o conhecimento enciclopédico e para se informar de tudo remontam certamente às muitas noites que o adolescente Saramago passou, concentrado e fascinado, em leituras diversificadas, na biblioteca pública do Palácio Galveias, em Lisboa. Profundamente autodidata (nesse tempo e daí para a frente), José Saramago viria a concluir um curso de Serralharia Mecânica numa escola técnica, a Escola Industrial Afonso Domingos, depois de ter frequentado o Liceu Gil Vicente (mas de onde teve de sair, porque a família não lhe podia pagar os estudos).
Enquanto editor e administrador, o nome de José Saramago, entre 1939 e 1941, surge associado à revista Síntese: revista mensal de cultura, sediada em Coimbra. Caso estranho, porque, aluno do curso profissional, Saramago era um adolescente e um jovem adulto (17, 18 e 19 anos). O facto é que o seu nome aparece entre os números 1 e 12 como editor e administrador e, no número 13, apenas como editor. Nunca surge como autor de qualquer artigo ou editorial. É uma revista em que colaboram autores como Abel Salazar, professor, investigador, médico, pintor e opositor do regime salazarista, e de outros nomes não menos relevantes, como António Sérgio, pedagogo, jornalista, historiador, político e homem de cultura. Miguel Real e Filomena Oliveira, na biografia As 7 vidas de José Saramago, consideram que Saramago terá sido convidado por alguém que estaria associado à criação da revista e com quem ele provavelmente se terá relacionado no âmbito das idas assíduas à biblioteca Palácio Galveias. Pilar del Río, em conversa com os autores, acrescenta que esse contacto deverá ter sido da responsabilidade de um professor da Escola Industrial Afonso Domingues. Dizem-nos Miguel Real e Filomena Oliveira: ter-se-á usado o nome de José Saramago, o que certamente o deixou orgulhoso mas também constrangido (por não assinar aí qualquer texto), já que a sua juventude impossibilitava uma acusação em tribunal, na linha do que se verificara quando os fundadores da revista Orpheu escolheram António Ferro, então com 16 anos, como editor.
A indiferença dos editores perante Claraboia teve efeitos na confiança de José Saramago, que se apagaria enquanto escritor em construção, para, ao invés, passar a promover, como editor, na Editorial Estúdios Cor, a partir de finais dos anos 50 e até ao dia 31 de dezembro de 1971, os livros de inúmeros autores. Obstinado e trabalhador, disciplinado, Saramago voltaria à escrita e, mais concretamente, à poesia, em 1966, bem como à crónica literária, em finais da década de 1960, e, em 1972-1973 e em 1975, à crónica política.
Em 1971, saía, na Arcádia, o livro de crónicas Deste mundo e do outro, que teve um excelente acolhimento por parte da crítica em geral e do leitores. Em cerca de três anos, após o convite de A Capital, que o desafiara a fazer crítica literária e a escrever uma crónica quinzenal, Saramago dedicou-se à forma breve cronística e fez dela um ofício e uma arte. Cultivou-a com esmero e originalidade, a ponto de este género jornalístico-literário lhe ter garantido um lugar confortável no panorama literário português do tempo. Que essa receção não foi meramente conjuntural e passageira, até porque Saramago era vítima de preconceitos (por ser autodidata), prova-o esta evidência: apesar de não poder competir com a monumentalidade de romances como Levantado do chão (1980), Memorial do convento (1982) ou O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), a crónica, no contexto da obra saramaguiana, não é considerada (pela crítica literária mais competente) um género menor ou subsidiário.
Em 1973, com igual sucesso, surgia A bagagem do viajante, com as novas crónicas publicadas em A Capital (1969) e no Jornal do Fundão (1971-1972). São mais 59 textos, a somar aos 61 de Deste mundo e do outro, escritos num estilo solto e ágil, eloquente e coloquial, lírico e realista, com reflexões que partem do particular para o universal, com preocupações humanistas e de sondagem do ser humano, naquilo que nele existe de tendência quer para a ultrapassagem do que a vida tem de trágico, quer, sobretudo, de propensão para o mal (a crueldade e as injustiças mais incompreensíveis e desnecessárias). O mote vem das vivências mais íntimas de José Saramago, da sua experiência de vida e do que ele vira e observava, da sua atenção à atualidade política, social e religiosa, das suas meditações e reflexões sobre quem é (e/ou pode ser), cultural e antropologicamente, o ser humano: a infância na Azinhaga, a avó e o avô, a natureza, o cosmos, a cidade, a pobreza, o mundo interior, a religião, as sociedades com os seus vícios e ridículos, a violência, a guerra, as desigualdades, a exclusão de pessoas e de grupos humanos, a indiferença perante o sofrimento alheio, a prática indiferente ou prazerosa do mal extremo etc.
José Saramago revela-se um exímio “registador do tempo” (para citarmos uma expressão dele, a abrir a crónica “Só para gente de paz”), um talentoso comentador não propriamente do facto quotidiano e de atualidade jornalística (que também existem, mas não como motivo absoluto ou exclusivo), mas, principalmente, de situações que o cronista apresenta como histórias breves, com um profundíssimo envolvimento pessoal, histórico, sociopolítico e proverbial. Líricas, muitas delas, melancólicas, atentas ao pormenor minimal e afetivo, e outras mais irónicas e satíricas, ou simultaneamente líricas e sarcásticas, sempre cativantes pelo diálogo que estabelecem com o leitor e com os apelos (não diretos, não moralistas) ao pensamento mais racional e ao sentimento mais humanista e fraterno.
Em muitas crónicas, José Saramago discorre frequentemente sobre o que é, para ele, esta forma narrativa breve, que não raramente assume todas as características do conto, como acontece na notável crónica “A cidade” (a primeira de Deste mundo e do outro): “Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade”. Crónica com muito de autobiográfico, o que, de resto, é típico do género, das crónicas saramaguianas e desta, em particular, que termina nestes termos: “Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade. E a cidade era ele próprio, Josephville, se lhe quisermos dar um nome”. O relato pode ter a configuração estilística e semântica de conto popular ou maravilhoso, como sucede na “História do rei que fazia desertos” (de A bagagem do viajante), que também começa com a fórmula “Era uma vez”, cuja função é a de remeter para um tempo-outro, exemplar, diferente do tempo em que se situa o cronista (e contista), a quem os leitores se entregam como se ele fosse um antigo narrador oral. Pela depuração, fluência encantatória e beleza das palavras, pelo inusitado realismo lírico dos episódios narrados e comentados, José Saramago bem pode ser equiparado ao narrador dos contos de fadas, esse mesmo que Walter Benjamin via como o primeiro e o mais verdadeiro narrador e conselheiro das crianças e da humanidade, em “Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. Aliás, em “O tempo das histórias”, o cronista lamenta não ser “já capaz de acreditar em certas maravilhosas histórias que li na infância”, histórias que “me ensinavam coisas que não tinha acontecido, e assim me davam, no mesmo gesto, verdades e irrealidades”.
Está por fazer um estudo pormenorizado, cronológico, de fontes e análise literária, das crónicas de José Saramago, que, para evocarmos um outro texto e salientarmos a plena mestria saramaguiana neste género, publicava, em 1972, na Colóquio/Letras, o conto “Calor”. Num estilo clássico e despojado, com frases bem medidas, as sequências narrativas mínimas encadeiam-se em direção ao desfecho imprevisto ou não imaginado. Este conto, com muito de efeito cinematográfico dos movimentos das poucas personagens e alguns apontamentos descritivos que situam a ação num ambiente rural e natural (“Metálica, dura, uma cigarra roía o silêncio. À distância, a atmosfera tremia”), encerra com a sugestão do encontro sexual entre “O rapaz [que] vinha do rio”, segundo o início, e a rapariga que, na outra margem, como ele, se despe, e recua “para a sombra dos salgueiros”, “Nua sobre o fundo verde das árvores”, aguardando-o. Conto de celebração da vida e da sexualidade realizada sem pecado, conto erótico, acima de tudo, sem qualquer contacto físico e nenhuma palavra trocada entre as duas personagens, que apenas comunicaram através do olhar e, depois, deduz-se, se uniram carnalmente.
O leitor não tem como não ser seduzido por uma tal escrita e só pode dar razão a Saramago, no texto “A crónica como aprendizagem: uma experiência pessoal”, para quem a crónica “não só tem o seu lugar na literatura como é, em muitos casos, uma das suas mais completas e acabadas expressões”.
Saramago: um escritor em formação (dos romances que o haveriam de celebrizar em Portugal e internacionalmente), quando escreve crónicas na imprensa, porém não menos já um escritor pleno, na posse total da arte breve e inefável da crónica. Textos como “Carta para Josefa, minha avô” e “O meu avô, também”, reunidos em Deste mundo e do outro, e “No pátio, um jardim de rosas”, incluído no volume A bagagem do viajante, transportam-nos para a realidade mais concreta e, ao mesmo tempo, fazem-nos ascender ao mais eterno da arte que procura a união e a conversão do humano num estádio moral e pragmático superior.
Carlos Nogueira
Para saber mais:
VENÂNCIO, Fernando. Crónicas jornalísticas do século XX: antologia. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004.
Sobre o autor:
Página da Fundação José Saramago: https://www.josesaramago.org/.
[1] A Editorial Minerva não o aceitou e a Empresa Nacional de Publicidade, que na altura não lhe respondeu, contactou-o na segunda metade dos anos 80, quando José Saramago era já um romancista muito reputado. Saramago foi à editora, pediu o datiloscrito e fez notar que o não queria publicar.
Publicação do verbete: jun. 2024.