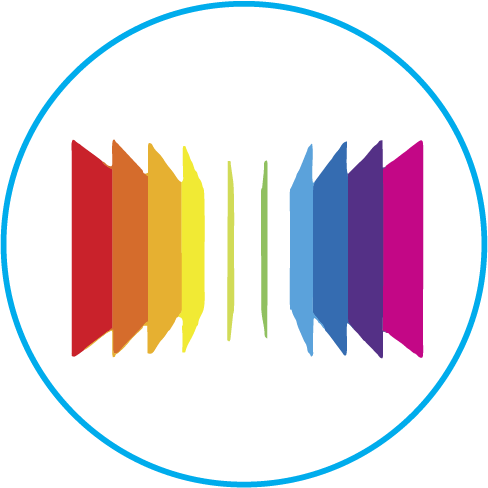R
Renato Modernell
O autor no Mercado Público de Rio Grande, em 2024.
Renato Modernell é um jornalista, escritor, professor e pesquisador sul-rio-grandense. Nasceu na cidade do Rio Grande, no dia 19 de agosto de 1953, deixando-a ainda na juventude, quando partiu para São Paulo. Na capital paulista cursou Comunicação Social, habilitação Jornalismo, na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), entre os anos de 1972 e 1975; um mestrado em Ciências da Comunicação, na Universidade de São Paulo (USP), entre os anos de 2002 e 2004; e um doutorado em Letras, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre os anos de 2007 e 2009. Na última instituição de ensino, o autor exerceu a função de professor adjunto I, entre os anos de 2006 e 2021. Publicou, na sequência, algumas das suas reflexões acadêmicas relacionadas à área da Comunicação, algumas delas premiadas, como a sua dissertação de mestrado.
Modernell vive em São Paulo há algumas décadas, onde estabeleceu vínculos acadêmicos, profissionais e literários. É sobre esta metrópole, a terceira maior do mundo, a sua mais aclamada obra literária: Sonata da última cidade (1988), que lhe rendeu o Prêmio Jabuti de romance um ano após o lançamento do livro. Complementam a “trilogia paulistana” escrita pelo autor as obras Os jornalistas: o romance do carrossel (1995) e Edifício Mênfis (1996).
Atuou em grandes jornais e revistas como repórter, editor, chefe de redação, dentre outras funções atreladas ao segmento da comunicação. Trabalhou na Folha de S. Paulo, no Jornal da Tarde e no Jornal Agora; nas revistas Crescer, Claudia, Época e Quatro Rodas, apenas para citar alguns impressos que contaram com a sua colaboração jornalística. Publicou, ao todo, mais de 300 textos em periódicos nacionais. Na revista especializada em carros, Modernell trabalhou como repórter de viagens e conquistou o Prêmio Bastos Tigre de Jornalismo, organizado pela Associação Brasileira de Imprensa, pela Bayer e pelo governo da Alemanha. Foi laureado, ainda, com seis prêmios Abril de Jornalismo e com o terceiro lugar do Prêmio Jabuti, categoria Comunicação, com a obra A notícia como uma fábula: realidade e ficção se confundem na mídia.
É autor de um total de dezoito obras autorais de literatura, a maior parte, e de jornalismo. No âmbito literário publica desde o ano de 1979. Meados dos anos setenta (poesia) foi a sua obra inaugural e a única do gênero. Publicou, na sequência, Che Bandoneón (novelas), em 1984; O homem do carro-motor (contos), em 1984; Sonata da última cidade (romance), em 1988; Meninos de Netuno (romance), em 1988; O grande ladrão (infantojuvenil), em 1990; Os jornalistas: o romance do carrossel (romance), em 1995; Edifício Mênfis (romance), em 1996; Viagem ao pavio da vela (romance), em 2001; Em trânsito: um ensaio sobre narrativas de viagem (ensaio), em 2011; A notícia como uma fábula: realidade e ficção se confundem na mídia (ensaio), em 2012; Gird, o quarto mago (romance), em 2012; Mare Magnum: Colombo em busca da maçã azul (romance), em 2013; Um sábado que não existiu: ensaios sobre comunicação e cultura (ensaio), em 2015; Breve como verão (coletânea composta por três novelas ambientadas no Hotel Familiar, que pertenceu a sua família, no balneário Cassino), em 2016; Outras terras (reportagens), em 2017; Ípsilon (coletânea de textos curtos de vários gêneros), em 2018; e Ficções do extremo Sul (antologia), em 2022.
Além de São Paulo, morou em Roma, Londres, Barcelona e em Figueira da Foz, Portugal. Embora tenha deixado a sua terra natal com apenas dezoito anos, a manteve viva na sua literatura. O pouco tempo que morou em Rio Grande parece ter sido suficiente para estabelecer raízes e vivenciar fatos que ultrapassaram a individualidade das suas memórias, que tornaram-se ficcionais e coletivas. A distância do local de origem atuou como uma espécie de recurso para regar a saudade, renovar a crítica e cultivar a nostalgia sobre a cidade portuária e litorânea por meio da criação literária. De 1984 a 2022, o município do Rio Grande sempre esteve presente na sua produção.
Márcia Helena Barbosa, em verbete do Pequeno dicionário da literatura do Rio Grande do Sul, organizado por Luiz Antonio de Assis Brasil, Maria Eunice Moreira e Regina Zilberman, destaca o descompasso entre a qualidade da obra e a circulação restrita que possui a obra do escritor rio-grandino, algumas vezes assegurada com recursos do próprio autor. Pelo menos cinco livros evidenciam Rio Grande na produção literária de Renato Modernell, tornando-o o escritor que mais escreveu sobre a cidade mais antiga do Estado na literatura sul-rio-grandense e brasileira: Che Bandoneón (1984), O homem do carro-motor (1984), Meninos de Netuno (1988), Breve como o verão (2016) e, mais recentemente, Ficções do extremo Sul (2022). Os três primeiros livros, reforça o verbete, compõem, segundo classificação do próprio autor, a trilogia gaúcha: “Embora não formem uma sequência, elegem como cenário preferencial o Rio Grande do Sul e os países que com ele fazem fronteira, explorando aspectos da história e da cultura dessas regiões” (Barbosa, 1999, p. 158).
Em cada uma das obras o autor transita por diferentes gêneros literários (novela, conto e romance) sem perder a qualidade dos seus textos, haja vista o reconhecimento obtido através de premiações. Che Bandoneón conquistou o Prêmio Aquilino Ribeiro, concedido pela Academia de Ciência de Lisboa; O homem do carro-motor venceu o Prêmio Bienal Nestlé de Literatura Brasileira; e Meninos de Netuno o Prêmio Guimarães Rosa de Romance. Modernell conquistou outros prêmios literários ao longo da sua jornada como escritor, destaque para o Premio Letterario Internazionale Marengo D’Oro, do Centro Culturale Maestrale, da Itália, em 2002. Ganhou, ainda, além de outras honrarias, o Prêmio Julia Mann de Literatura, do Instituto Goethe, de São Paulo, em 1997; e o Prêmio Erico Verissimo, da União Brasileira de Escritores, em 2002. No ano de 1996 foi Patrono da XXIII Feira do Livro da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
O autor compartilha seus textos (na sua maioria, crônicas) no blog Adjazzcências e nas suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram. O principal trabalho a que se dedica atualmente é a composição do que ele chama de “recitativos” (textos breves em prosa poética entremeados de vinhetas musicais), postados mais ou menos regularmente na plataforma de vídeo YouTube.
Tiago Goulart Collares
Para saber mais:
______. Che Bandoneón. São Paulo: Global, 1984.
Publicação do verbete: jul. 2024.
Revista Mensal da Sociedade Partenon Literário
Capa do primeiro número da revista (mar. 1869).
Marco da literatura do Rio Grande do Sul, a Sociedade Partenon Literário foi fundada em 18 de junho de 1868, em Porto Alegre, tendo existido até pelo menos o começo de 1886. A Revista Mensal foi o seu órgão de divulgação cultural, circulando entre 1869 e 1879, com interrupções, em um total de quatro séries, com diferentes denominações e periodicidade diversa: 1ª série, de março a dezembro de 1869, mensal, sob o nome de Revista Mensal da Sociedade Partenon Literário; 2ª série, de julho de 1872 a maio de 1876, mensal, sob os nomes Revista Mensal da Sociedade Partenon Literário (1872 e 1873) e Revista do Partenon Literário (1874 a 1876); 3ª série, de agosto a dezembro de 1877, quinzenal (até outubro) e mensal (novembro e dezembro), sob o nome de Revista do Partenon Literário; e 4ª série, de abril a setembro de 1879, mensal, sob o nome Revista Contemporânea do Partenon Literário, Consagrada às Letras, Ciências e Artes.
A revista tinha uma média de 40 a 50 páginas, passando por diferentes tipografias da capital gaúcha: do Jornal do Comércio, do jornal A Reforma, do Constitucional, da Imprensa Literária e da Deutsche Zeitung. Contava com uma Comissão de Redação, que regularmente mudava a sua composição, sendo designado, a cada edição, um redator do mês. Como não ostentava anúncios nem era vendida, a manutenção da revista se dava a partir do pagamento de mensalidades pelos sócios. Os colaboradores viriam a se tornar os mais significativos nomes da literatura do Rio Grande do Sul no século XIX: Amália Figueiroa, Apeles Porto Alegre, Apolinário Porto Alegre (escritor e professor, o principal mentor da agremiação, que muitas vezes assinava como Iriema), Aquiles Porto Alegre, Bernardo Taveira Júnior, Damasceno Vieira, Luciana de Abreu, José Antônio do Vale Caldre e Fião (médico e escritor já conhecido na época, tendo se tornado presidente honorário do grupo), José Bernardino dos Santos (em geral assinava como Daimã), Múcio Teixeira, Revocata Heloísa de Melo e Vítor Valpírio (pseudônimo de Alberto Coelho da Cunha).
A importância da revista e do grupo do Partenon, para a então Província sulina, radica-se, em primeiro lugar, por seu papel literário, ao introduzir aqui o Romantismo; ao propagar o Regionalismo, tema que viria a ser tornar um dos cernes da literatura sul-rio-grandense; e por, de certa forma, dar início efetivo ao sistema literário do Rio Grande do Sul, antes dominado por manifestações isoladas, que não concediam unidade nem público leitor à literatura produzida na região. Também a contribuição social da agremiação importa destacar, já que deu voz às mulheres; lutou pela república e pela abolição da escravatura (inclusive concedendo a alforria a negros em eventos festivos, organizados para este fim); estruturou um museu de ciências naturais; manteve, ao longo de vários anos, aulas noturnas às pessoas interessadas; organizou uma biblioteca; e abriu espaço em sua tribuna para manifestações sobre os mais variados assuntos.
Seus interesses, apontados no texto inicial da revista, o “Programa”, em março de 1869, era o estudo de filosofia, história e literatura, sendo esta última a prioridade, por meio de romances, contos, crônicas, biografias, relatos de viagem, registros históricos, poemas e peças de teatro, muitas vezes publicados em formato de folhetim. Alguns destaques são o romance O vaqueano (jul. a dez. 1872), de Apolinário Porto Alegre, fundamental por introduzir definitivamente os assuntos telúricos na literatura local; as lendas recontadas por José Bernardino dos Santos (“Boitatá”, maio 1869) e Vítor Valpírio (“A Mãe do Ouro”, jan./maio e jul./ago. 1873); os poemas de cunho lírico de Amália Figueiroa (publicados entre 1872 e 1874); os discursos de Luciana de Abreu, sobre a educação e a emancipação das mulheres (dez. 1873 e jun. 1875); os dramas e as comédias ambientados em Porto Alegre e em outras cidades do país; poemas e contos regionalistas; narrativas de cunho urbano; romances históricos; e a abordagem, em vários textos, da escravidão, tema caro ao grupo.
Voltada para o leitor do Rio Grande do Sul, os textos eram inéditos, em sua maioria escritos pelos sócios, em especial das cidades de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, não havendo a transcrição de textos de autores de outras províncias ou países; há algumas traduções, como a de Charles Poncy (“Image”, por Bernardino dos Santos, out. 1869), Edgar Quinet (“Fragmento da prosa do Ashaverus”, set. 1875) e Shakespeare (cenas 1 e 2 do ato V de O mouro de Veneza, mar./abr. 1876), essas duas últimas por Elpídio Lima. Autores estrangeiros e brasileiros aparecem em necrológios ou esboços biográficos: Lamartine (por Bernardino dos Santos, maio 1869), Gonçalves Dias (por Hilário Ribeiro, mar. 1875) e José de Alencar (por Apolinário Porto Alegre, set./dez. 1873 e fev. 1874), o que demonstra a conexão que havia entre os partenonistas e a produção de escritores nacionais e internacionais da época.
Mauro Nicola Póvoas
Para saber mais:
CESAR, Guilhermino. História da literatura do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1971.
HESSEL, Lothar F. et al. O Partenon Literário e sua obra. Porto Alegre: Flama; IEL, 1976.
MOREIRA, Maria Eunice (Coord.). Narradores do Partenon Literário. Porto Alegre: IEL; CORAG, 2002.
PORTO ALEGRE, Álvaro. Partenon Literário: ensaio lítero-histórico. Porto Alegre: Thurmann, 1962.
PÓVOAS, Mauro Nicola. Uma história da literatura: periódicos, memória e sistema literário no Rio Grande do Sul do século XIX. Porto Alegre: Buqui, 2017.
SALDANHA, Benedito. A mocidade do Parthenon Litterário. Porto Alegre: Alcance, 2003.
SILVEIRA, Cássia Daiane Macedo da. Sociedade Partenon Literário: literatura e política na Porto Alegre do século XIX. Curitiba: Prismas, 2016.
VELLINHO, Moysés. O Partenon Literário. In: PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ESTUDOS GAÚCHOS. Porto Alegre: PUCRS, 1958.
ZILBERMAN, Regina; SILVEIRA, Carmen Consuelo; BAUMGARTEN, Carlos Alexandre. O Partenon Literário: poesia e prosa. Porto Alegre: EST; Instituto Cultural Português, 1980.
Sobre o periódico:
Exemplares da revista podem ser encontrados na Biblioteca Rio-Grandense, em Rio Grande, e na biblioteca da PUCRS e no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em 2018, a EDIPUCRS publicou toda a coleção da revista em formato on-line, o que facilitou bastante a consulta ao material: aqui.
Publicação do verbete: dez. 2021.
Revista Nova
Capa do primeiro número da revista (15 mar. 1931). Fonte: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM/USP).
Revista Nova, publicação cultural de São Paulo, foi dirigida por Mário de Andrade, Paulo Prado e Antônio de Alcântara Machado. Lançada em 15 de março de 1931, foi trimensal em seu primeiro ano (com edições nos meses de junho, setembro e dezembro) e bimensal ao longo de 1932 (publicada em fevereiro, abril e junho), seu último ano de circulação. Devido à deflagração do movimento Constitucionalista de 1932, no qual seus editores se envolveram, os números 8, 9 e 10, foram publicados em um único volume, em dezembro do mesmo ano.
Sob a gerência de Nelson Palma Travassos, a redação e a administração da revista situavam-se à Rua Xavier de Toledo, no centro da capital paulista, e cada exemplar custava 5$000. A Livraria José Olympio, em São Paulo; Plínio Doyle, no Rio de Janeiro; e João Mendonça, no Recife, estavam autorizados a angariar as assinaturas. A revista não publicou material imagético e tampouco estampou anúncios comerciais, limitando-se a divulgar obras no prelo e publicações modernistas recém-lançadas nas livrarias.
Com a capa quase toda tomada pelo sumário, a Revista Nova era considerada um periódico de grandes dimensões (22,5cm x 15,5cm), com média de 150 páginas por volume e guardava significativa semelhança com a primeira fase da Revista do Brasil (São Paulo, 1916-1925), tanto pelos elementos gráficos e diagramação do texto, quanto no que respeita à proposta editorial.
A publicação reuniu um seleto rol de colaboradores, a exemplo de Luís da Câmara Cascudo, Sérgio Buarque de Holanda, Alfredo Éllis Jr., Tristão de Ataíde, Manuel Bandeira, Prudente de Moraes Neto, Murilo Mendes, Guilherme de Almeida, Astrojildo Pereira, Alberto Rangel, Augusto Meyer, Sérgio Milliet, Amadeu Amaral Júnior, dentre outros.
Em termos de organização interna do material, a revista dividia-se entre ensaios, artigos, publicação literária e as seções. Os editoriais da Revista Nova, primeiro conteúdo estampado, eram denominados “Momento” assim como na Revista do Brasil, quando Paulo Prado esteve à frente do periódico (1923-1925), fase em que os editoriais se intitulavam “O Momento”. Na Nova, esses textos, ausentes apenas nos números 6 e 8, referiam-se a temas candentes, sobretudo aqueles que impactavam culturalmente o Brasil. Após os editoriais, apresentava-se os documentos históricos, que possuíam natureza diversa como cartas, excertos de diários, material manuscrito inédito ou proveniente de arquivo, e, quando lidos em conjunto, apresentam as ambíguas relações entre passado e presente, tradição e modernidade, questões que estavam imbricadas na proposta da revista. A Revista Nova contou com um bom número de artigos, ensaios – que ocupavam cerca de dois terços de cada número – e produção literária (prosa e poesia), sempre alocadas após os editoriais ou documentos históricos. Não havia, entretanto, divisão rígida entre esses dois conteúdos, de modo que a leitura de um ensaio denso era, por vezes, seguida de uma poesia.
Um segundo eixo era formado pelas seções, que não sofreram alterações em termos da ordem na qual figuravam, ainda que nem sempre estiveram presentes em todos os números: “Crônica”, que tratava de assuntos variados, sob a responsabilidade de Prudente de Moraes Neto; “Etnografia”, iniciada no segundo número e dedicada a temas relativos ao folclore; “Notas”, que compreendia informes gerais da redação, cartas, revistas e livros recebidos, dados dos colaboradores da edição e erratas, ao que se somavam resenhas de obras recém lançadas; “Brasiliana”, que reproduzia excertos de documentos oficiais e notícias de conteúdos inusitados; e “Resenha”, composta de transcrições de matérias diversificadas provenientes de outros veículos de imprensa e que só não esteve presente no último número. As seções da Revista Nova elucidam o programa do periódico, que firmara o compromisso de debater e se posicionar frente à situação política e social do país, aspectos que também se ancoravam na experiência da Revista do Brasil.
O fim da Revista Nova foi marcado por problemas financeiros do empreendimento, cabendo assinalar que o investimento inicial foi feito pelos três diretores, que garantiram os recursos para os dois anos de publicação. Pode-se supor que os rendimentos auferidos não tenham sido suficientes para manter a publicação em circulação. De outra parte, a saída de Mário de Andrade, que já não participou da confecção do último volume, também deve ter pesado na decisão de encerrar a publicação, tendo em vista o importante papel por ele desempenhado na fatura do periódico.
Natália Zampella
Para saber mais:
Sobre o periódico:
Publicação do verbete: nov. 2024.
Revista, A
Capa da primeira edição de A Revista (Belo Horizonte, jul. 1925)
Na recém-fundada Belo Horizonte do começo do século XX, um grupo de jovens literatos afeitos às experimentações vanguardistas fundou A Revista, primeira publicação modernista do estado de Minas Gerais, que dava continuidade às ideias debatidas nas revistas anteriores do movimento, como Klaxon (São Paulo, 1922-1923) e Estética (Rio de Janeiro, 1924-1925). Assim, ampliava-se a rede intelectual em torno do Modernismo brasileiro, que ganhava novos contornos na discussão pela renovação literária e cultural do país. Os responsáveis pelo periódico eram conhecidos como o grupo do “Estrela”, confeitaria onde se reuniam frequentemente para conversar sobre os assuntos do momento e trocar opiniões a respeito de seus escritos literários, entre os quais Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida, Pedro Nava, Gregoriano Canêdo, Abgar Renault, Emílio Moura, João Alphonsus, para citar alguns dos mais assíduos.
A redação localizava-se na Avenida João Pinheiro, 565, e todos os números foram produzidos na tipografia do Diário de Minas, na Rua da Bahia, 1210-1220, jornal em que contribuíam alguns integrantes do grupo, assinando textos de crônica social, literários e mesmo algumas investidas modernistas já podiam ser notadas nessas páginas. Dos três números publicados, a ambição de periodicidade mensal foi cumprida nos dois primeiros exemplares, que circularam em julho e agosto de 1925, seguido de um hiato até o lançamento do terceiro e último número em janeiro de 1926. A direção ficou à cargo de Carlos Drummond de Andrade e Martins de Almeida, com Gregoriano Canêdo na função de redator. Sem informações sobre a tiragem, os números avulsos eram vendidos a 1$000, custando a subscrição semestral 6$000 e a anual em 12$000.
Optou-se pelo título enxuto e sem subtítulo que caracterizasse o teor moderno do periódico, sem desconsiderar o sentido estratégico de não antecipar sua proposta à sociedade mineira de então, pouco afeita às novas tendências. Se comparada às demais revistas modernistas da década, A Revista teve formato pequeno (14,5 x 22 cm), com cerca de 58 páginas por número. Com projeto gráfico bastante simples, sua capa em cor sóbria era destacada apenas pelo título em vermelho e a composição era completada pelo sumário exposto ao centro, um padrão visual característico de outras publicações contemporâneas no cenário editorial brasileiro, como o caso da Revista do Brasil (São Paulo, 1916-1925). Em seu interior, a diagramação era convencional, com letras miúdas, sobretudo se confrontada com a primeira revista modernista paulista, Klaxon.
A Revista não contou com um manifesto explícito do grupo, porém, as apresentações de primeira página de cada número podem ser lidas como suas propostas e posições no movimento modernista. O número de estreia se abriu com o texto “Para os céticos”, não assinado, mas atribuído a Drummond, que debatia as ideias de vanguarda, tradição, nacionalismo e regionalismo. O segundo, cuja autoria foi conferida a Martins de Almeida, dava continuidade a este diálogo, agora dirigindo-se “Para os espíritos criadores”. O último número não teve um texto de apresentação, mas tal função foi cumprida pelo poema “Poética”, de Manuel Bandeira, uma ode à renovação e liberdade artística.
Em relação ao conteúdo, A Revista reuniu significativo número de contribuições em prosa, poesia, artigos e ensaios. Relevante espaço foi dedicado à crítica literária, como na seção “Os livros e as ideias”, que tinha em vista informar o leitor a respeito das mais variadas publicações modernistas, nacionais e estrangeiras, sobretudo francesa. Também foram publicados artigos que debatiam aspectos do nacionalismo, regionalismo e tradição. Em relação aos colaboradores de A Revista, é notável a presença dos próprios integrantes do “Estrela”, além de alguns nomes de peso no cenário modernista nacional, com destaque para Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho. Em contrapartida, a publicação registrou colaborações ditas “passadistas”, dada a presença de nomes tradicionais do campo cultural mineiro, que pouco se relacionavam com a parcela vanguardista de A Revista.
Compreende-se o desaparecimento de A Revista pela dispersão do grupo responsável, que se afastou de Belo Horizonte após a conclusão dos cursos universitários, seguindo por outros caminhos pessoais ou profissionais. No entanto, os modernistas mineiros continuaram a contribuir em outras publicações e atividades do movimento, numa circulação de ideias que não se limitou à geografia ou temporalidade de sua atuação em A Revista.
Luciana Francisco
Para saber mais:
MARQUES, Ivan. Cenas de um Modernismo de província: Drummond e os rapazes de Belo Horizonte. São Paulo: Ed. 34, 2011.
Sobre o periódico:
Há coleções completas da revista disponíveis on-line na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (HDBN), no Acervo Digital da Biblioteca Brasiliana Guita e José Midlin (BBM-USP) e no Portal Revistas de Ideias e Cultura (RIC-Brasil).
Publicação do verbete: fev. 2025.
Romance-folhetim
Página do jornal O Rio-Grandense (Porto Alegre, 24 maio 1846), com um capítulo de folhetim no rodapé. Fonte: Hemeroteca Digital Imprensa Sul-Rio-Grandense do Século XIX (HDIRS): www.ufrgs.br/hdirs.
Como todas as boas histórias, a dos folhetins também é recheada de intrigas. Seu idealizador foi Émile Girardin, criador do jornal francês La Presse. Para multiplicar e baratear sua folha, Girardin imaginou uma forma diferente de publicar textos literários – eles passariam a aparecer em capítulos. Assim, cativariam leitores e ajudariam a ampliar a tiragem. Mas ele tinha um sócio, Armand Dutacq, que percebeu o potencial daquilo, separou-se de Girardin e, antecipando-se a ele, lançou o primeiro romance-folhetim no jornal Le Siécle, do qual foi fundador.
No dia 5 de agosto de 1836, foi publicado o primeiro capítulo de Lazarillo de Tormes, narrativa anônima espanhola, cuja primeira edição conhecida data do século XVI. A escolha do texto não foi por acaso: além de não exigir pagamento de direitos autorais, a obra constituía uma espécie de modelo primitivo da narrativa que faria enorme sucesso entre os parisienses, os franceses, em geral, a Europa e, logo, diversos países do mundo: os textos em folhetim.
A publicação sequenciada popularizou a literatura através dos jornais. Essa aproximação entre literatura e imprensa aconteceu devido, principalmente, aos avanços tecnológicos ocorridos em meados do século XIX e aos episódios político-culturais do período. O desenvolvimento das máquinas impressoras permitiu a ampliação das tiragens, chegando, primeiramente, aos 4 mil exemplares e, depois, saltando para os 20 mil exemplares diários. Ao final do século, as tiragens alcançavam uma milhão de exemplares-dia. O problema, então, era que esses jornais precisavam ser distribuídos, conquistar leitores e, principalmente, garantir sua fidelidade (Hohlfeldt, 2003).
Originalmente, o folhetim era o espaço do rés do chão da primeira página dos jornais, dedicado a textos não informativos, como resenhas de livros ou de espetáculos, crônicas políticas ou políticas, material de variedades. As iniciativas de Girardin e Dutacq apropriaram-se daquele espaço para a publicação de narrativas ficcionais em fragmentos.
Publicados em partes, com sua ação dramática suspensa de tal forma que a solução dos conflitos exigia vários capítulos, as narrativas provocavam a curiosidade dos potenciais assinantes dos jornais. Seus textos se caracterizavam como narrativas longas, cheias de melodramaticidade e personagens os mais variados possíveis, com ações que se multiplicavam através de seus capítulos, propiciando um enredo complexo. Era um texto literário, por seu maior apuro estilístico, mas que se aproximava do jornalismo, por referenciar, muitas vezes, acontecimentos recentes (Hohlfeldt, 2023).
Suas características principais eram: enredos complexos, grande número de personagens, ações eletrizantes, detalhes em torno do passado cuidadosamente omitidos pelo narrador até determinado momento da ação, estrutura montada de maneira a fazer coincidir um efeito de suspense com o final do espaço destinado à narrativa, sinais de reconhecimento etc. São variadas as designações para esse tipo de produção: além de romance-folhetim, esses textos também foram chamados de literatura industrial, paraliteratura, literatura de massa, literatura trivial e romance de apêndice, entre outros. Fato é que, por interinfluências geográficas, formais e de conteúdos as mais variadas, essas produções alcançaram enorme difusão (Hohlfeldt, 2003) e perduram ainda no século XXI, não apenas nos jornais impressos quanto em sites variados, sem esquecer as apropriações dos canais de streaming, com suas narrativas seriadas e desdobradas em temporadas.
Como hoje ocorre com as telenovelas, alguns personagens ganhavam maior importância, por imposição do público; histórias de sucesso tinham de ser estendidas, sem esquecer, é claro, o sempre presente entrelaçamento entre ficção e realidade (Meyer, 1996). Dessa maneira, conquistavam-se novos leitores e ampliava-se a abrangência do jornal. A rápida popularização dos folhetins fez com que, logo, os exemplares fossem disputadíssimos e a melhor saída para não perder nenhum capítulo fosse mesmo investir na assinatura do jornal. Em seguida, começaram a ser publicados na forma de livro, tão logo a narrativa concluísse sua circulação pelas páginas do jornal. O mesmo periódico ocupava-se em vender o livro, a que se agregavam ilustrações que valorizassem o volume.
A febre dos folhetins logo chegou ao Brasil. Um dos primeiros romances nessa linha, no país, foi Capitão Paulo, de Alexandre Dumas, publicado em 1838, no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. Os leitores multiplicaram-se e a influência sobre os que se tornariam os primeiros escritores do país seria plenamente reconhecida, bastando citar autores como Machado de Assis e José de Alencar.
Os escritores surgidos na maré do Romantismo brasileiro utilizariam o mesmo princípio para a divulgação de suas obras, e a circulação dos romances, no Brasil, através dos jornais, permaneceria, até meados do século XX, fazendo com que não apenas os textos românticos quanto os autores das tendências que se seguiriam, especialmente o Realismo e o Naturalismo, adotassem o mesmo tipo de veiculação (Hohlfeldt, 2003). Também os textos de peças teatrais consagradas foram veiculados no espaço do folhetim. Na década de 1940, o dramaturgo Nelson Rodrigues, sob o pseudônimo de Susana Flag, publicou, nos jornais de Assis Chateaubriand, algumas das mais famosas histórias em capítulos da imprensa brasileira.
Mas não foi nos jornais que o folhetim atingiu seu ápice de popularidade no Brasil. Isso só acontece quando suas histórias passam a ser adaptadas para o rádio, na década de 1940, e para a televisão, na década de 1960. Só para se ter uma ideia, em 1956, a Rádio Nacional transmitia quatorze radionovelas por dia – elas representavam 50% da programação da emissora (Haussen, 1997). Na televisão, o gênero se transforma em um dos principais fenômenos de massa – a popularidade da ficção televisual se dá, por aqui, quando as telenovelas descobrem a realidade brasileira e passam a desvendá-la em capítulos diários, oferecidos para o deleite e distração do telespectador (Melo, 1998). O recente fenômeno das séries, acompanhadas com entusiasmo por espectadores de diferentes lugares, perfis, idades e classes sociais, é um sintoma de que a ficção seriada, com nova roupagem, continua conquistando públicos variados e ocupando espaço importante nos hábitos de consumo cultural contemporâneos.
Antonio Hohlfeldt
Para saber mais:
Publicação do verbete: nov. 2024.
Roque Callage
Roque Oliveira Callage nasceu em Santa Maria, em 13 de dezembro de 1888, e faleceu em Porto Alegre, em 23 de maio de 1931. Irmão de Fernando e Nenê Callage, foi jornalista, cronista, escritor, funcionário público, caixeiro e professor. Roque Callage também ajudou a fundar o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e é patrono da Academia Rio-Grandense de Letras, concedendo seu nome à cadeira de número 35.
Diferente de muitos jovens jornalistas sul-rio-grandenses, Roque Callage não ingressou no ensino superior, tendo apenas concluído seus estudos primários em Santa Maria. Autodidata, começou a trabalhar no comércio aos 14 anos, procurando a instrução intelectual em seu tempo livre. Participou de alguns semanários, dos quais se destaca A Sogra, O Estudante, O Boêmio, A Tribuna, O Comércio, Diário da Tarde e O Popular. Em Santa Maria, também trabalhou na redação do jornal O Estado, dirigido por Andrade Neves Neto. Em 1907, além de redator do jornal, assumiu o cargo de professor de língua portuguesa no Ginásio Ítalo-Brasileiro.
Sua obra de entrada no mundo literário foi Prosa de ontem, em 1908, publicada ainda em Santa Maria. Renegado pela crítica e pelo próprio autor, o compêndio de contos apresenta marcante influência de Eça de Queirós, inspiração da juventude de Callage. Em 1910, sua segunda obra, Escombros, encontrou maior receptividade dos círculos intelectuais gaúchos. Mudou-se para São Gabriel e estudou a cultura sul-rio-grandense, suas lendas e costumes. Sua amizade com Alcides Maya, assim como a experiência do convívio com os peões e tropeiros da região, ajudaram a redirecionar sua produção literária, como conferido em sua terceira obra, Terra gaúcha, de 1914.
Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1916, onde acumulou as funções de funcionário da Biblioteca Nacional com o trabalho em diversas redações, como A Notícia, A Tribuna, A Noite e A Gazeta. Após quase dois anos na capital da república, retornou a Porto Alegre, ingressando na redação do Correio do Povo. Seu estabelecimento em Porto Alegre culminou com a retomada dos estudos sobre a tradição gaúcha. Escritor predominantemente regionalista, Callage valoriza e interpreta a realidade sulina em seus contos que versam sobre a Campanha, o gaúcho fora de seu ambiente, o folclore, os costumes e a paisagem. Com a Revolução de 1923, estabeleceu-se ao lado dos defensores de Assis Brasil, enviando notas em primeira mão ao Correio do Povo, direto do campo de batalha.
Entre fins de 1923 e início de 1924 esteve em São Paulo, ocasião em que publicou o livro O drama das coxilhas, pela editora de Monteiro Lobato, e proferiu inúmeras conferências literárias, tanto na capital paulista quanto em cidades do interior. Após seu retorno ao Rio Grande do Sul, trabalhou alguns meses no Correio do Povo antes de assinar a coluna “A Cidade”, no Diário de Notícias, em março de 1925. Grande momento de sua carreira, desempenhou no jornal a função de cronista por mais de cinco anos, quando se exonerou, no final de 1930, para assumir a função de inspetor federal de ensino, na cidade de Rio Grande. Ao retornar à capital gaúcha, voltou a colaborar com o Correio do Povo, antes de falecer vítima de tuberculose.
Suas obras são: Prosas de ontem (1908), Escombros (1910), Terra gaúcha (1914), Terra natal (1920), Rincão (1921), O drama das coxilhas (1923), Vocabulário gaúcho (1926), Quero-quero (1927), No fogão gaúcho (1929), Episódios da Revolução (1930), contos, além de assinar inúmeras crônicas no Correio do Povo (1922-1924) e no Diário de Notícias (1925-1930), assim como algumas contribuições esparsas na Revista do IHGRGS (1922-1925). Roque Callage ainda deixou inéditos o romance gauchesco Fronteira e um compêndio intitulado Crônicas e ensaios.
Henrique Perin
Para saber mais:
PERIN, Henrique. Roque Callage e os esquecidos d’A Cidade: a exclusão social em Porto Alegre através do olhar de um cronista (1925-1930). Rio de Janeiro: Ases da Literatura, 2024.
Publicação do verbete: fev. 2025.