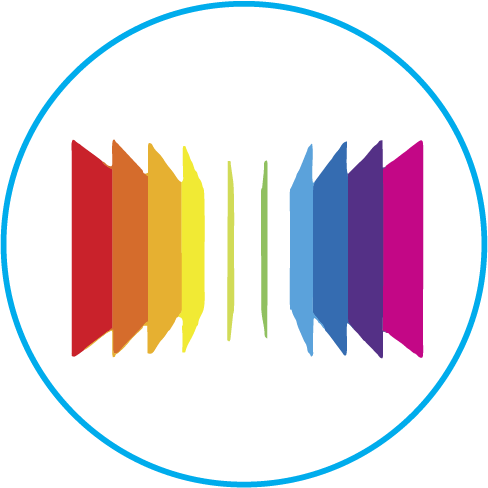Capa do livro Os sabiás da crônica, org. Augusto Massi, Ed. Autêntica, 2021.
A crônica é um gênero polivalente. São muitos os valores que transitam ao longo do percurso de sua afirmação, assim como são vários e, não raro, divergentes, os aspectos que fundamentam seus traços formais. Esta configuração movediça, instável e proteiforme é marca também de sua história. Suas raízes partem de relatos sobre as ações que os indivíduos realizam no tempo, especialmente aquelas que se inscrevem em ciclos históricos notáveis e cujo registro evade-se da denotação para tornar-se também permeável à conotação.
É nesta acepção que a crônica circulará na Espanha, França e Inglaterra ao longo do século XII. No período, portanto, tratava-se de um discurso historiográfico que admitia a imaginação no engendramento de seus conteúdos, transfigurando a pulsação efêmera do vivido em testemunho narrativo. Ao longo de sua trajetória, contudo, outros sentidos são assimilados pelo gênero, dos quais se podem mencionar os significados de cunho religioso, além de filiações mais específicas, como aquela que o vincula ao ensaio de tom pessoal e especulativo idealizado por Montaigne; ou outra, estabelecida por Afrânio Coutinho, baseada na relação – apressada e imprecisa, diga-se – entre a crônica e os textos da tradição inglesa batizados de personal essay ou familiar essay.
Com o propósito de traçar a genealogia do gênero em língua portuguesa, no entanto, é fundamental partir da nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor do reino de Portugal e a responsabilidade atribuída a ele de narrar os feitos dos reis antepassados a D. Duarte. Já no Brasil, segundo Jorge de Sá, a prática da crônica estaria no centro do relato de achamento da terra feito por Pero Vaz de Caminha, em sua empreitada de relatar sucedidos no tempo presente, esforçando-se para captar uma realidade efêmera e circunstancial, evocada não apenas pelo que tem de monumental, mas principalmente pelo valor dos pequenos acontecimentos e pela força narrativa do detalhe. De qualquer forma, percebe-se nestes momentos iniciais que o gênero é distinguido por imprecisões conceituais, contradições taxonômicas e descompassos evolutivos que frequentarão toda sua história. Entretanto, apesar desta instabilidade na procura de sua origem e nos elementos-chave de sua constituição, é possível estabelecer algumas características que marcam a crônica nas suas mais diversificadas manifestações.
O hibridismo. Seu primeiro aspecto distintivo é antecipado pelo percurso formativo acidentado que a marca e serve de parâmetro para muitos dos traços que a definem. A crônica começa a adquirir suas feições contemporâneas no século XIX, processo situado dentro do lugar ocupado pela imprensa na sociedade oitocentista e do estabelecimento do folhetim romântico enquanto seção essencial dos periódicos. Neste contexto, o folhetim (feuilleton) representava um novo espaço dentro dos noticiosos: o rodapé (inaugurado na França por Émile de Girardin), cuja principal característica era a independência em relação às demais seções do jornal. Inicialmente sua função era publicar textos literários, estatuto logo modificado em vista de servir como uma espécie de miscelânea, em que todos os tipos de assunto poderiam ser elaborados, com ênfase na crítica de arte, resenhas e artigos sobre assuntos diversos. Sendo assim, tratava-se de um lugar destinado às “variedades” e cujo propósito principal seria o entretenimento.
Não demorou para o termo “folhetim” designar tudo aquilo que não fosse jornalismo propriamente dito, incluindo aí os contos, romances e novelas publicados em seu espaço. Apesar desta multiplicidade de temas e modos, uma distinção se aplica entre o folhetim-romance, dedicado à publicação de romances em capítulos, e o folhetim-variedades, ocupado em coletar e comentar os acontecimentos da vida da cidade, sendo logo adotado, de forma experimental, pelos jovens escritores interessados em se comunicarem neste estilo livre, entre a retórica, o jornalismo e a literatura. É na esteira desta segunda acepção que se configura a crônica como a conhecemos hoje, a partir do momento em que o jornal se torna campo estético para sua realização, o que a distancia dos demais textos literários que habitavam o jornal “de empréstimo”.
Os primeiros exercícios desta modalidade cronística no país partem de gêneses diversas. Afrânio Coutinho menciona Francisco Otaviano de Almeida Rosa, em 1852, como seu iniciador entre nós. Vilma Arêas, por seu turno, demonstra que Martins Pena já exercitava este tipo de escrita nos jornais brasileiros desde 1839, com crônicas que trazem os sugestivos títulos “Minhas aventuras numa viagem de ônibus” e “Uma viagem na barca a vapor”, textos em que episódios de pouca importância aparente são elaborados pela imaginação e configuram-se por meio de uma franca faceta ficcional. Joaquim Ferreira dos Santos, contudo, cita o padre Lopes Gama em O Carapuceiro (1832) e o jornal Espelho Diamantino (1828), com sua seção fixa dedicada ao relato dos costumes do período, dentre as manifestações que inauguram a crônica nacional.
Ateste-se nestas primeiras realizações uma das principais ambivalências da crônica, ou seja, o caráter fronteiriço entre o jornalismo e a literatura. Com efeito, é necessário mencionar a notável distinção que se sustentará a partir deste ponto entre a crônica e o artigo. A primeira se afasta do texto jornalístico principalmente porque, enquanto neste a linguagem é um meio, naquela, é um fim. Seu propósito está em abandonar a natureza do fato em si para reconhecer nele as propriedades literárias que o tornam relevante e envolvente, além do estilo que o valoriza, seja extraindo dele alguma graça, algum lirismo, alguma alegoria complexa ou reflexão existencial escondida nas trivialidades que passariam desapercebidas, não fosse o olhar atento do cronista. Nesse sentido, a crônica se ocupa em percorrer e descobrir. O artigo, em demonstrar e conceituar.
Esta distinção foi percebida e elaborada pelos dois autores que estabelecerão a crônica no Brasil enquanto espécie de “contranotícia”, José de Alencar e Machado de Assis, escritores responsáveis por definir aquela que seria a primeira fase do gênero no país e que têm em comum, guardados seus estilos diferenciados, a percepção dos atributos polivalentes e cambiantes da nova textualidade que experimentavam: seu hibridismo fundante e configurante, eixo de um discurso intersticial, multimodal e pluridiscursivo. Ao longo da história da crônica, este hibridismo estimulará esforços classificatórios contraproducentes, como as infindáveis listas de subgêneros que, carentes de rigor, tentam diferenciá-la com critérios imprecisos, distinguindo a crônica lírica, a crônica-conto, a crônica humorística, a crônica-artigo, entre outros termos similares. Estas tentativas inquietas e abrangentes de definição se associam a outra característica da crônica.
A dispersão. Isso ocorre porque o hibridismo do gênero adquire contornos formais e conteudísticos. Primeiramente, porque os cronistas estabelecem que, na crônica, cabe tudo. Alencar e Machado deixaram registros célebres a respeito disso, em textos que erravam de um assunto para o outro, especulavam, tergiversavam, sucediam-se em episódios vários, muitas vezes desconjuntados, que oscilavam da narração para a digressão e, desta, para a descrição, mas se uniam em solidariedade, em um mesmo passeio marcado pela liberdade discursiva e tópica. Além das crônicas metaliterárias de Machado e Alencar, é possível citar aqui aquele que marca o segundo momento na crônica no Brasil, Rubem Braga, com textos como “Sizenando, a vida é triste” e “Conversa de abril”, exemplos que modelaram todo um legado cultural e influenciaram textos de outras gerações, como “A pirâmide, o labirinto, a esfinge, o inferno”, de Vário do Andaraí; “Navegar”, de Gil Perini; “Guarda-chuvas e capacetes”, de Fernando Sabino; “A vida virtual”, de Ruy Castro; “Karaokê”, de Fabrício Corsaletti; e “Paris, Texas”, de Maria Ribeiro.
Não raro, a dispersão nasce de uma performance que admite a falta de assunto, a partir da qual o cronista simula uma escrita por obrigação, dedicada ao cumprimento dos prazos, o que ocorre em “Qualquer coisa”, de Lima Barreto, por exemplo. Além disso, desta mesma tradição emerge também o uso recorrente da figura do flâneur, aquele que anda pelas ruas atento para as suas inúmeras possibilidades de assuntos, paisagens e conflitos. O personagem, enquanto condutor da atividade cronística, se propulariza ainda no século XIX com Joaquim Manuel de Macedo, mas adquire linhas definitivas com aquele que já precedia a modernidade de Rubem Braga no Brasil: João do Rio, em textos do tipo de “A pintura das ruas” e “Modern girls”. Ateste-se ainda que, seguindo na linha da flânerie, podem ser citados também “Andar, simplesmente”, de Carlos Drummond de Andrade; “Réquiem para os abres mortos”, de Paulo Mendes Campos; e “Cadê meu bistrô”, de José Carlos de Oliveira. Estes passeios literários pela realidade coletiva e comum se associam à próxima característica da crônica.
A aventura do cotidiano. A expressão é de Fernando Sabino e se relaciona com outra idealizada por Antonio Candido sobre o gênero: “ao rés do chão”. Ambas designam certa propriedade que a crônica frequentemente assume de atentar para os objetos e valores do mundo de uma maneira subversiva, invertendo suas importâncias e propriedades para admitir e procurar a relevância do que normalmente é considerado insignificante. Uma das técnicas dos cronistas utilizada para este tipo de figuração é o “efeito lupa”, ou seja, a ampliação do minúsculo, fruto de uma observação enviesada que atua, muitas vezes, por meio da desautomatização e da singularização, ou seja, que tenta mostrar os objetos como se eles fossem vistos pela primeira vez, atividade que envolve a descoberta de propriedades originais em itens ordinários e de relações nunca antes imaginadas entre eles, além de abordar as situações do mundo ordinário por prismas até então inéditos. São exemplares destes recursos as crônicas “Aula de inglês” e “Visão do mar”, de Rubem Braga; “O jogador e sua bola”, de Affonso Romano de Sant`Anna; “Abacate”, de Maria Julieta Drummond de Andrade; “A invenção da laranja”, de Fernando Sabino; “Considerações acerca da goiaba”, de Cecília Meireles, “O guarda-chuva”, de Antonio Prata; “A máscara do meu rosto”, de Nélida Piñon; e “Tabuletas”, de João do Rio.
Na maioria destas peças, o que se observa são situações nas quais o universo cotidiano assiste à corrosão de suas hierarquias. O fora de foco avança para o primeiro plano. O irrelevante torna-se significativo, prenhe de sentidos. Assim, fazem parte também desta “aventura do cotidiano” as crônicas em que situações e lugares comuns provocam epifanias e revelam aspectos não descobertos do real. O espaço e seus objetos, portanto, deixam de ser itens meramente descritivos para tornarem-se propositivos. É o que sucede nos textos: “No restaurante por quilo, deus morreu e tudo ali é permitido”, de Gregório Duvivier; “Debaixo da ponte”, de Carlos Drummond de Andrade; “Banheiro de posto: um caso de estudo”, de Antonio Prata; “As bonecas”, de Lourenço Diaféria; “Ah, o copo de requeijão”, de Humberto Werneck; “O lugar”, de Mario Prata; e “O milagre das folhas”, de Clarice Lispector.
Fique visto que, em certas oportunidades, o “correlato objetivo”, técnica frequentemente associada à poesia, é a estratégia eleita para a figuração, isto é, seleciona-se uma imagem ou um conjunto de imagens ordinárias que se rearranjam para produzir efeito novo (geralmente emocional) no leitor. Os itens da realidade perdem seu estatuto inerte para tornarem-se parte de uma consciência integrante. O objeto, ou o cenário, se converte, assim, em ente. Nestas situações, a crônica começa a se abrir para outra de suas características.
O lirismo. A crônica se aproveita de alguns dos valores da lírica com frequência: o afastamento da noção aristotélica de imitação e o esmorecimento da intriga e da linearidade da ação em busca de uma representação marcada por outros prefigurantes, como a carga afetiva, a unidade de significação das palavras, a performance discursiva, ora rememorada, ora onírica. Nestes casos, não há enredo propriamente dito e a vaguidade é ocasionada pela disposição anímica (introspectiva e/ou reminiscente) de quem se expressa, o que, por um lado, confunde as fronteiras do mundo exterior e do mundo interior e, por outro, convida à leitura ativa e comprometida. Assim, o lirismo na crônica tende a convidar o leitor para correalizar algo já realizado e inserir-se como ser atuante no relato.
Outras possibilidades estilísticas deste tipo de texto envolvem o uso de recursos geralmente associados à escrita dos poemas, como os paralelismos, as repetições, as paranomásias, as rimas internas, as aliterações, as enumerações, a metaforização abundante e a musicalidade, na qual as relações do ritmo, som, imagem e sentido das palavras (em harmonia e em dissonância) formam uma mesma enunciação vocabular, cuja capacidade expressiva importa mais do que o encadeamento lógico-sintático dos períodos e sentenças. A estes procedimentos podem se somar outros, que se sustentam na fragmentação das frases, o que confere um ritmo afogueado à enunciação, componente verbal da exaltação de uma vida interior que se transborda, ou de um inconsciente que se liberta e expressa, ou da metafísica que gradativamente se aproxima da consciência narrativa, mas nunca se instaura, pois esta entende que a verdadeira natureza das coisas não é um todo estável, mas uma busca em devir.
Além disso, o lirismo na crônica frequentemente opera uma descrição transfigurada do mundo, que descreve sem definir. Estabelece-se, assim, um voo vertiginoso de elucubrações íntimas, reveladoras da tensão permanente de um mundo que se evoca, mas nunca se apresenta nítido e integral. Estas estratégias compõem obras como “Domingo” e “Setembro”, de Rubem Braga; “Compensação”, de Cecília Meireles; “Prosa primitiva” e “Primeiro exercício para morte”, de Paulo Mendes Campos; “A noite é uma lembrança” e “O exercício de piano”, de Antônio Maria; e “Eu sei, mas não devia”, de Marina Colasanti.
É importante ressaltar que, nestes casos, apesar dos vários recursos formais evocados, a linguagem geralmente não se rebusca e a aproximação com o cotidiano não se perde, mesmo quando o universo mundano é capturado pelo que tem de acidental e passageiro, circunstância que permite introduzir outro dos elementos recorrentes do gênero.
A efemeridade. Este aspecto se desdobra em dois sentidos. Primeiramente, na feição já explorada pelo lirismo, isto é, o desejo que a crônica tem de grafar o momento que passa. Mas há outro significado que a acompanha desde os folhetins até sua apresentação atual em páginas da internet, blogs de autores e veículos digitais: a validade curta que ela possui. Sua apresentação se processa neste universo, mais uma vez ambivalente, entre o transitório e o permanente, entre a publicação pontual e periódica e sua reapresentação definitiva em livro; entre a referência ao acontecimento passageiro, sua eloquente referencialidade, e a atualização em contextos futuros, distantes de sua data de publicação original. O leitor tende a esquecer da notícia, mas lembrar da crônica e esta relação ambígua com o fato sucedido anuncia outra de suas características.
A opinião. Como já dito, a crônica é uma espécie de contranotícia, sendo assim, o papel da opinião nela assume dupla natureza. Inicialmente, pois flexibiliza, ou mesmo se distancia, da hipótese. Interessa mais aos cronistas as contradições de sua argumentação do que convencer os leitores de seu ponto de vista (esforço este presente no artigo). As dúvidas são tão importantes quanto a hipótese central. As crenças se enfraquecem pela especulação, pela errância meditativa, pelas muitas possibilidades digressivas e pela flutuação própria da miscelânea. É recorrente que estes textos sejam motivados pelas dúvidas que os leitores enviam aos jornais, como é o caso das crônicas: “Ser gente” e “Discos voadores”, de Rachel de Queiroz.
Em outras oportunidades, o cronista parte do acontecimento noticioso para revelar aquilo que ninguém comentou, perceber o que nenhuma nota oficial reparou e analisar aspectos considerados laterais do tópico em pauta, ignorando seus aspectos centrais: “O Brasil lê”, de João do Rio; “E a múmia tinha uma bolsa”, de Marina Colasanti; “Colapso”, de Fernanda Torres; “Herói. Morto. Nós”, de Lourenço Diaféria; “Morte de uma baleia”, de Clarice Lispector; “Batalha no Largo do Machado” e “Flor de maio”, de Rubem Braga; e “A rainha na visão dos trópicos”, de Fernando Sabino. Este desejo de comunicação, que evita ser unilateral e apresenta-se despretensioso, se relaciona com outra característica da crônica.
A acessibilidade. A crônica, seja na modalidade lírica ou na opinativa, prefere se apresentar em registro coloquial e informal. Seu léxico é comum e usual. Ao absorver muitos aspectos da oralidade, se aproxima mais da conversa do que da palestra e isso também se relaciona com sua origem, afinal os narradores da crônica se delinearam no século XIX, lado a lado com o começo da literatura de massas e com a franca dessacralização do texto literário. Assim, na cronística, a língua se apresenta de forma trivial e, com a imaginação, adquire suas propriedades literárias. Este registro próximo do dia a dia se converte também em outra propriedade do gênero.
A intimidade. O narrador da crônica quer estar próximo dos leitores. Comunicar-se com eles como se fossem conhecidos e transitar em um universo que seja comum ao produtor e ao receptor, estimulando a incorporação da realidade do interlocutor no texto. Este tipo de recurso poder ser visto em “O homem com a menina no colo”, de Luiz Henrique Pellanda; “Insônia”, de Luis Fernando Verissimo; “A última crônica”, de Fernando Sabino; “Naquela mesa tá faltando um”, de Mario Prata; “Receita de felicidade”, de Ivan Ângelo; e “As razões que o amor desconhece”, de Martha Medeiros.
É importante notar que esta atitude de familiaridade adquire tons confessionais e desabafantes em certas ocasiões: “Temas que morrem”, de Clarice Lispector; “Quem tem olhos”, de Marina Colasanti; “Agostos por dentro” e “Pálpebras de neblina”, de Caio Fernando Abreu; “Despedida”, de Antônio Maria; “Eu sou bonita, mas estou cansada”, de Tati Bernardi; “Elogio da morte”, de Lima Barreto; e “Eu, nua”, de Maria Ribeiro.
Quando radicalizada, esta comunhão entre leitor e narrador pode se estabelecer pelo uso da primeira pessoal do plural, como “Amanhecer em Copacabana”, de Antônio Maria, e “Bar ruim é lindo, bicho”, de Antonio Prata, ou na focalização interna de segunda pessoa, que ocorre em “Verdade interior”, de Caio Fernando Abreu, mas geralmente se instaura pela inferiorização e autodepreciação da voz que relata e se apresenta em situações constrangedoras e desfavoráveis: “Um idoso na fila do Detran”, de Zuenir Ventura; “Diário da quarentena”, de Antonio Prata; “O homem rouco”, de Rubem Braga; “A descoberta do mundo”, de Clarice Lispector; e “Notas de um ignorante”, de Millôr Fernandes. Nestes últimos exemplos, percebe-se um ingrediente recorrente deste tipo de narração, o último que costuma marcar o gênero nas suas diversas manifestações.
O humor. O riso é ambivalente como a crônica. Etimologicamente, é líquido e fluido. Vive também em um espaço liminar, no caso entre o psíquico e o físico, entre o individual e o social. As várias modalidades do cômico exibem o potencial para ridicularizar o que é sério, ou seja, abalar a constituição natural dos fenômenos, infringir o esperado e quebrar os padrões e as convenções. O desinteresse pelas formas originárias e estáticas dos discursos, a desconfiança com a noção de pureza, que favorece o intertexto e o dialogismo, e a inversão das hierarquias normatizadas são propriedades que irmanam a crônica e o cômico.
Além disso, a argumentação debochada dos cronistas, que desconcerta para esclarecer, encontra na derrisão, na energia que corrói os valores do mundo, as possibilidades para renová-lo. A crônica se beneficia, portanto, do caráter regenerativo do riso, que, como já defendeu George Minois, atua no hiato entre a existência e a essência. Assim, o humor é instrumento frequente do olhar específico que o cronista dirige ao mundo, condizente com o tom leve que seu registro assume, afinal, como sabiam seus primeiros articuladores, a necessidade de entreter o público e comentar sua vida marca a crônica desde o nascimento, e estas duas atividades se beneficiam das propriedades que o cômico tem de apresentar os costumes às avessas, a contrapelo, por um viés inédito e, por isso mesmo, sedutor e envolvente.
Daniel Baz dos Santos
Para saber mais:
SIMON, Luiz Carlos. Duas ou três páginas despretensiosas: a crônica, Rubem Braga e outros cronistas. Londrina: EDUEL, 2011.
Muitas das crônicas aqui citadas podem ser lidas no “Portal da Crônica Brasileira”.
Publicação do verbete: fev. 2025.